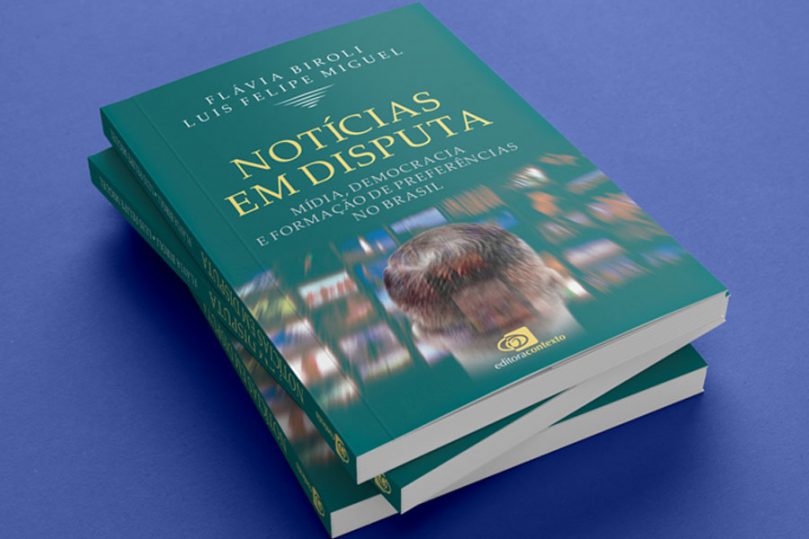Os meios de comunicação de massa revolucionaram nossa forma de estar no mundo. Desde a imprensa, no século XVII, até a internet, hoje, passando centralmente pelo rádio e pela televisão, a mídia transformou os fluxos de informações, produziu novos rituais da vida diária, proporcionou uma quantidade antes inimaginável de vivências vicárias. O livro – “Notícias em Disputa” é sobre os meios de comunicação de massa e seu impacto social; em particular, seu impacto sobre as formas do conflito político no Brasil contemporâneo.
Embora dialoguem permanentemente com a realidade brasileira, os textos que formam o livro possuem a ambição de contribuir para uma compreensão teórica aprimorada da relação entre os meios de comunicação e a política. Para tanto, é importante aprofundar o entendimento dos processos produtivos da mídia – como os estudos sociológicos do chamado newsmaking fazem há décadas – e de sua interface com as estratégias dos agentes políticos. Trata-se de uma questão que ainda permanece subdesenvolvida na teoria política, o que, aliás, contrasta com a atenção que recebe dos líderes políticos nas disputas reais: eles possuem uma preocupação quase obsessiva com sua visibilidade na mídia.
Os estudos da área indicam duas vias principais de influência da mídia sobre a política. Por um lado, a influência sobre os agentes políticos, que adaptam seus discursos às formas exigidas pelos meios e moldam suas formas de ação na expectativa da cobertura midiática que pretendem obter. Por outro lado, há o impacto sobre o público, que vai se situar a partir das representações do mundo que recebe da mídia. Ela tem, portanto, uma influência decisiva no processo de formação das preferências políticas.
Ao discutirmos a mídia, nos capítulos que se seguem, pensamos em primeiro lugar no jornalismo. É claro que seus outros conteúdos – que compõem a “programação de entretenimento” – também têm importância, na medida em que transmitem valores e visões de mundo.
São material ideológico, para usar um conceito imerso em polêmica, mas que tem o mérito de jogar luz sobre o caráter ativo das representações do mundo. Mas o jornalismo, entendido como o sistema que reúne, seleciona, hierarquiza, organiza e vende informações sobre a atualidade, possui um impacto político muito direto. É a ele, em primeiro lugar, que se dirigem os formadores de opinião e candidatos à liderança política; é dele que o público retira o material que contribui de maneira mais ostensiva para seu entendimento das alternativas políticas existentes a cada momento. É dele, também, que as novas formas de sociabilidade, como as redes sociais, retiram a maior parte do material que discutem e reinterpretam em seus próprios espaços.
Como prática social, o jornalismo se constituiu em torno de um conjunto de valores que sustentam sua pretensão de expor o mundo “tal qual ele é” a seu público. Os ideais clássicos de imparcialidade, neutralidade e objetividade podem ter sido desafiados por percepções mais complexas dos processos de produção das notícias, mas continuam ocupando posição central na autoimagem dos jornalistas, na constituição dos esquemas de atribuição de valor a seu trabalho, na defesa desse trabalho diante das pressões internas e externas ao campo jornalístico, na construção de um referencial ético compartilhado pelos próprios jornalistas – e também na sua legitimidade diante dos consumidores de informação.
Ao lado da imparcialidade e de seus correlatos, há outro valor perseguido pelo jornalismo: o pluralismo. Se não é  possível atingir o ponto arquimediano a que a imparcialidade aspira, podemos ao menos alcançar um sucedâneo dela ao expor todas as múltiplas parcialidades. Há um movimento similar ao que ocorre na teoria democrática, em que o ideal de “governo do povo” tende a ceder passo à ideia de que as decisões seriam tomadas em resposta à pressão de múltiplas minorias. Com isso, a partir da metade do século XX, o pluralismo se tornou uma espécie de “índice” de democracia.
possível atingir o ponto arquimediano a que a imparcialidade aspira, podemos ao menos alcançar um sucedâneo dela ao expor todas as múltiplas parcialidades. Há um movimento similar ao que ocorre na teoria democrática, em que o ideal de “governo do povo” tende a ceder passo à ideia de que as decisões seriam tomadas em resposta à pressão de múltiplas minorias. Com isso, a partir da metade do século XX, o pluralismo se tornou uma espécie de “índice” de democracia.
Na nossa compreensão, a abordagem liberal pluralista faz uma crítica insuficiente à imparcialidade, mantendo-a como o valor-guia final. O problema estaria na realização imperfeita desse ideal e não em suas implicações políticas. Assim, fica mantida a oposição entre parcialidade e objetividade para a avaliação do trabalho jornalístico e de seu grau de pluralismo – a saber, de sua competência para reproduzir, fielmente e de maneira equilibrada, as vozes e os interesses que fariam parte, per se, dos debates e contendas considerados relevantes o suficiente para compor o noticiário. O jornal “plural” replicaria objetivamente a pluralidade existente na realidade. Além disso, a abordagem pluralista implica o entendimento de que as múltiplas vozes se encontrariam numa arena que seria uma espécie de palco, e não um ator. Um dos efeitos que a abordagem pluralista produz é o de que as perspectivas sociais em concorrência seriam incluídas a posteriori, em vez de serem constituídas e ampliadas (ou restritas) pelos próprios meios de comunicação.
Mas os limites do pluralismo midiático, nas democracias liberais, são bem evidentes. Como observou Daniel Hallin, o jornalismo se move dentro do que chamou de “espaço da controvérsia legítima”. Diferentes vozes devem estar representadas, mas vozes consideradas dissidentes ou desviantes de um consenso básico não precisam ser levadas em conta: a Fairness Doctrine (diretriz oficial do jornalismo estadunidense entre 1949 e 1997) não devia dar guarida aos comunistas (Hallin, 1986: 116-7). Muitas vezes, o pluralismo na cobertura é entendido como a necessidade de refletir o sistema partidário: são as posições dos principais partidos que precisam estar representadas.
Na medida em que, como a pesquisa da ciência política mostrou, a disputa partidária tende a puxar as principais legendas para o centro, o debate na mídia pode incorporar apenas uma fatia bastante limitada do espectro de posições presentes na sociedade.
Além disso, outras formas de atuação política, assim como as visões de mundo que mobilizam, não correspondem em grande medida à própria concepção da política e dos conflitos políticos
que o jornalismo chancela.
O que procuramos fazer é deslocar o problema de modo que a noção de pluralismo político incorpore o problema da relação entre a democracia, os meios de comunicação e o “pluralismo social”. Desse modo, torna-se possível analisar a sobreposição entre as posições presentes na mídia e aquelas presentes no campo político a partir de um entendimento que evita avaliar se o noticiário é plural tomando como referência processos que já são, eles próprios, excludentes. O jornalismo é, assim, um ator na conformação da esfera pública, na qual emergem com pesos relativos distintos as posições que seriam, então, consideradas independentes dos mecanismos que as ativam, ampliam ou restringem. Ao mesmo tempo, se ser plural é espelhar as posições no campo político tal e qual ele se conforma em um dado momento, outras posições, que têm importância na sociedade, mas dificuldade de chegar às instituições políticas, podem ficar de fora. O debate público que ocorre nos meios de comunicação permanecerá fechado a elas.
O conceito de perspectiva, tal como desenvolvido na obra de Iris Marion Young, oferece um caminho para compreender as formas de exclusão que impactariam um público ou uma esfera de representação constituída, minimizando sua pluralidade e também seu potencial democrático. Ela entende que os sujeitos a serem analisados, aqueles que são objetos de exclusão ou favorecimento, não são os indivíduos, mas os grupos. Esses grupos não possuem uma identidade permanente, essencial: existem como função das interações entre os diversos grupos numa sociedade historicamente constituída. O caminho, portanto, é entender os processos que indicam “uma rede de relações de reforço e restrição” que geram diferentes condições de acesso às esferas sociais, atuando “conjuntamente para produzir possibilidades específicas e excluir outras” e operando em um “círculo de reforço” às condições, posições e relações existentes. (Young, 2000: 93).
Os valores da imparcialidade e da objetividade no jornalismo, embora possam servir como uma forma de resistência relativamente a pressões de governos e mesmo de agentes econômicos, escondem a adesão a posições que, por sua vez, correspondem à visão de mundo de alguns grupos, mas não de outros.
Numa sociedade cindida por clivagens (de classe, de gênero, de raça, entre muitas outras), a apresentação de visões parciais como se fossem “nenhuma posição” permite que as experiências e os interesses de alguns grupos sejam universalizados. Como as clivagens que diferenciam os grupos correspondem a privilégios, estamos falando de hierarquias socialmente estruturadas que ganham forma no debate público por meio da visibilização e da vocalização desigual dos grupos.
A própria definição do que faz parte e do que não faz parte do universo legítimo da política reflete tais assimetrias. Numa crítica influente ao conceito habermasiano de esfera pública, Nancy Fraser (1992) indicou a necessidade de “contrapúblicos” em que os grupos subalternos fossem capazes de discutir entre si e produzir uma visão mais autônoma do mundo. Na medida em que os meios de comunicação de massa formam um eixo determinante da esfera pública, as observações da teórica estadunidense contribuem para questionar até que ponto o programa político dos dominados passa pela inclusão igualitária na mídia hegemônica ou, por outro lado, pela geração de suas próprias redes de comunicação. Não se trata, no entanto, de reduzir o problema fundamental da assimetria entre as grandes empresas, que têm no seu peso atual um recurso para fazer valer seus interesses e pressionar pela manutenção de um sistema de mídia no qual sua centralidade permaneça, e as mídias que abrigariam perspectivas alternativas (ou críticas), mantendo muitas vezes uma posição frágil ou marginal. Na análise de Fraser, prevalece a tensão entre o reconhecimento de que existem diversos públicos (e perspectivas, para mantermos a noção corrente nesta discussão) e a análise crítica da assimetria entre eles, isto é, de como suas posições relativas correspondem a diferentes recursos para se fazer ouvir, fazer valer seus interesses e incidir sobre a política institucional.
A visibilidade diferenciada nos meios de comunicação é entendida como parte de um “círculo de reforço” que naturaliza não apenas a visão de mundo de alguns grupos, mas o exercício desigual de influência nas democracias. Há matizes entre a exclusão pura e simples de um grupo e os obstáculos para que esse grupo tenha alguma autonomia na definição de quais são suas necessidades e seus interesses. Em um polo, temos a ausência, os estereótipos e a definição dos grupos como “objetos” de políticas e apreciações muitas vezes investidas de um caráter técnico, em outro, temos a possibilidade de que grupos diferenciados e que competem na construção de sentidos para sua experiência e para o mundo social tomem parte autonomamente no debate. Quanto mais próximos estamos do primeiro polo, maior é a possibilidade de que os estereótipos orientem os juízos relativos às diferentes competências e habilidades de homens e mulheres, às diferentes disposições morais de ricos e pobres, à capacidade que os diferentes indivíduos teriam para emitir opinião sobre assuntos públicos, para citar alguns exemplos.
Nesse quadro, portanto, a imparcialidade não é apenas vista como inatingível: ela serve a funções ideológicas bem definidas. Como indica Young, ela sustenta a ideia de neutralidade estatal, que se manifestaria na autoridade burocrática e nos processos decisórios hierárquicos. Em especial, a imparcialidade reforça a opressão ao transformar o ponto de vista de grupos privilegiados em uma posição universal. A unidade à qual as diferenças são reduzidas é forjada artificialmente e é também socialmente situada. A negação da pluralidade se vincula a uma moral transcendente, capaz de totalizar as perspectivas – e de afastar quem permanece do lado de fora.
O resultado é eliminar a alteridade como integrante efetiva do espaço público. Por fim, a imparcialidade legitima hierarquias baseadas na divisão entre público e privado, assegurando despolitização da opressão de variados grupos.
Usar a imparcialidade como critério-chave para avaliar o grau de democracia, de justiça ou de pluralidade da mídia ou do jornalismo implica perder de vista uma parte relevante das dinâmicas de opressão. É um valor que promove a ocultação dos lugares de enunciação dos discursos e das redes de diferenciação que os caracterizam e que fazem com que circulem por determinados espaços e sejam aceitos como verdadeiros.
Na abordagem de Young, a noção de objetividade ganha um significado diferente daquele que é corrente na deontologia do jornalismo. De um lado estariam perspectiva e objetividade e, de outro, imparcialidade e ponto de vista universal. No primeiro campo, justiça envolve a consideração e negociação entre perspectivas variadas – incorporando a diversidade e o conflito social e, por isso, promovendo uma visão objetiva das relações sociais. No segundo, justiça envolve a promoção do bem comum, superadas as particularidades. Ela apresenta como neutras e universais as posições dos grupos hegemônicos e, por isso, no limite, impõe o silêncio às perspectivas sociais de outros grupos. Ou seja: a objetividade é entendida como uma conquista da comunicação democrática que “inclui todas as posições sociais diferenciadas”, mas não é “simplesmente algum tipo de soma de seus pontos de vista diferenciados” (Young, 2000: 114).
Essa interação não permitiria a superação dos conflitos estruturais, mas levaria a um alargamento do pensamento, a um melhor entendimento das demandas por justiça e a uma compreensão mais objetiva de cada posição e das relações entre elas. Ensinaria sobre as perspectivas de outros e explicitaria, a cada um, o quanto sua própria experiência é perspectiva (Young, 2000: 117).