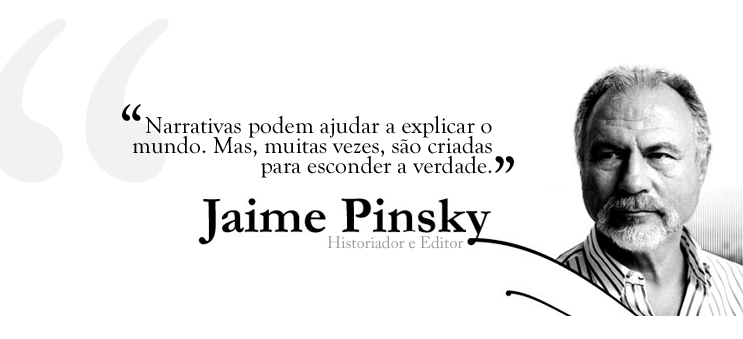De um tempo pra cá não se fala mais de fatos, do que aconteceu ou deixou de acontecer, mas de narrativas. O termo, usado por historiadores há anos, passou a ser aplicado por jornalistas, depois por políticos e agora por todo mundo. E, como todo bom conceito, ao ser utilizado a torto e direito, ao se tornar abrangente demais, teve o mesmo destino de tantos outros: seu significado esvaziou-se. Por vezes narrativa é versão, por vezes é distorção, mas também pode ser constatação de um processo (histórico ou não). É frequente ouvirmos frases como: “A narrativa que o Governo oferece sobre a morte de centenas de milhares de brasileiros é diferente da narrativa da oposição”. Também ouvimos coisas como “O sistema de justiça no Brasil acaba beneficiando os poderosos e ricos, pois só eles dispões de dinheiro para contratar advogados de primeira linha, além de contatos adequados para transformar suas narrativas em verdades para os juízes”.
Claro que há narrativas… e narrativas. Eu as ouvia desde pequeno dos meus pais, dos aposentados da oficina da Estrada de Ferro Sorocabana, que frequentavam a loja da família, de livros que aprendi a ler com cinco anos de idade. E, depois, eu mesmo criei algumas. Minha filha (uma conhecida psicóloga, que já trabalhou na Columbia University e hoje presta serviços à Organização Mundial de Saúde), quando pequena, tinha medo do lobo mau. A mãe dela tentava explicar que lobos não existiam no Brasil, pelo menos aqueles que ela temia, o que engolia a avó de Chapeuzinho, que perseguia os três porquinhos e o que mais aparecesse pela frente… Não adiantava. A menina pedia a todo mundo histórias que envolvessem o lobo e depois ele aparecia nos sonhos dela. Melhor dizendo, nos pesadelos que ela tinha. Um dia, resolvi combater uma narrativa com outra. Tínhamos um cão pacífico, chamado Jung, um collie de pequeno porte, cujo melhor amigo era um gato ladrão que aparecia em nosso quintal para roubar a comida do cão. Comecei a contar para a minha filha que o lobo tinha muito medo do nosso “cão-lobo” e que este costumava deitar-se no chão do quintal de casa, do lado de fora dos quartos. Avisei minha filha que, se ela quisesse que o lobo mau desistisse de aparecer, era só colocar um tapetinho debaixo da janela do quarto dela. Assim o cão-lobo (Jung) a defenderia de qualquer tentativa de ataque do lobo. A história era, do ponto de vista lógico, inverossímil. Mas, inverossímil também era a ideia que um lobo saísse das estepes europeias e viesse se instalar no bairro de Pinheiros, em São Paulo e, pior ainda, tivesse resolvido atacar minha filha. A questão não era que a menina de quatro anos aceitasse a lógica kantiana. Isso não aconteceria mesmo, por mais esforços que fizéssemos. A questão era fazer com que ela parasse de ter medo e dormisse sossegada. Graças à promoção do pobre cão a cão-lobo, isto aconteceu. Minha narrativa alcançou seu objetivo.
O mesmo acontece com as narrativas em voga. Quem as cria, ou adota, não está preocupado com sua veracidade, nem com sua possibilidade. Importante é ela ser aceita, adotada e colocada em circulação. Alguém acha que os criadores da ideia de que havia uma raça ariana e que esta era uma raça superior, de gente mais forte e mais bonita do que todas as demais e que havia, por outro lado, uma raça inferior, de sub humanos? Faz algum sentido que o povo alemão, sabidamente um povo culto, engolisse a ideia de que um loiro boçal de sua suposta raça pudesse ser superior a Einstein, a Primo Levi, a Marc Bloch, pelo simples fato de estes serem judeus? Claro que não. Os que formularam a política racista do governo nazista sabiam o que estavam sabendo, não se enganaram e sabiam que não enganariam ninguém, a não ser imbecis consumados, ou crianças inexperientes. O importante era apresentar a narrativa como se seus formuladores acreditassem nela, agir como se acreditassem nela e justificar todos os crimes cometidos como se tivessem sido perpetrados de boa fé, a partir de uma ideologia justificável.
Narrativas, mesmo as falsas, podem ser muito distintas. Umas são criadas para o bem, outras para justificar o mal. Assim as narrativas. Quando são criadas por um governo para justificar a marginalização de parcela da população, quando são usadas contra crianças ou mulheres, pobres ou negros, estrangeiros ou minorias de qualquer espécie, são narrativas que podem e devem ser denunciadas. Quando são inventadas como passaporte para se tomar o poder, quando são elaboradas para mostrar um heroísmo que não passou de violência, quando são criadas para ofender e destruir, sem preocupação com o bem estar do povo, precisam ser identificadas e publicamente condenadas.
Jaime Pinsky é historiador e editor. Completou sua pós-graduação na USP, onde também obteve os títulos de doutor e livre-docente. Foi professor na Unesp, na própria USP e na Unicamp, onde foi efetivado como professor adjunto e professor titular. Participa de congressos, profere palestras e desenvolve cursos. Atuou nos EUA, no México, em Porto Rico, em Cuba, na França, em Israel, e nas principais instituições universitárias brasileiras, do Acre ao Rio Grande do Sul. Criou e dirigiu as revistas de Ciências Sociais, Debate & Crítica e Contexto. Escreve regularmente no Correio Braziliense e, eventualmente, em outros jornais e revistas.