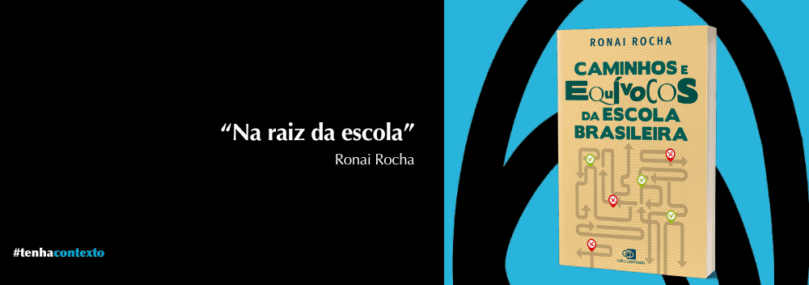Por Ronai Rocha
“De que modo essa palavra, ‘espírito’, entra em um livro sobre rumos e equívocos da escola?”, me perguntou a amiga, enquanto folheava as páginas do meu recente Caminhos e equívocos da escola brasileira (Contexto, SP). Ela estava com o livro aberto na página 13, e lá estava a frase: “na raiz da escola está o espírito”.
“Na raiz da escola?” A pergunta dela revelava uma surpresa agradável, mas havia nela um pontinho de descrédito.
“Falar sobre ‘espírito’ meio que saiu de moda entre os filósofos e os educadores, não?” Eu concordei, o léxico atual da área não valoriza muito essa palavra.
Ela até provoca algum desconforto.
“Mas precisamos voltar a esse tema”, eu insisti. Lembrei a ela que o livro do Jonathan Haidt, sobre a geração ansiosa, dedicou um capítulo sobre o que ele chamou de “degradação espiritual”, relacionada ao uso abusivo do celular. Mas Haidt não aprofundou o conceito de espírito, tampouco mostrou de que modo esse tema se relaciona com a escola. Meu livro, falei para ela, faz exatamente isso.
Ela retrucou:
— Mas qual conceito de espírito? Como ligar esse conceito com a escola? E por que fazer isso?
— Por razões pessoais, em primeiro lugar.
Ela me olhou com curiosidade. Não é muito comum a gente invocar “razões pessoais” para justificar escolhas conceituais para, então, determinar o rumo de um livro com pretensões acadêmicas. Segui.
— Eu faço parte da geração que contribuiu para equívocos em torno da escola. Vou dizer isso de uma forma meio bruta: a minha geração teve um certo deslumbramento pelos autores que falavam da escola como um aparato de perpetuação da dominação de classes, que falavam do currículo como mecanismo de combate às injustiças. Aconteceu algo parecido com a história do bebê e da água do banho: ao invés de usar traços desses autores para uma pintura mais realista da escola, deixamos que eles dominassem a descrição. Entre os anos 1970 e 1990 permitimos que predominassem as teorias que fazem da escola apenas um objeto teórico. Dizendo de forma ainda mais dura: jogamos fora a escola e as crianças.
— Isso é um exagero, não faz sentido, ela disse. — Foi exatamente naquele período que a pedagogia brasileira voltou-se para os ideais de transformação social por meio da educação. Aqueles anos viram uma defesa de educação libertadora, transformadora, em busca de justiça, como nunca havia sido feita até então.
Ela estava brava comigo e tinha um bom ponto. Ela arrematou sem subir o tom:
— É um absurdo dizer que essa sociologização foi um equívoco.
Eu não podia recuar. A palavra “equívoco” está no título do meu livro, “Caminhos e equívocos da educação brasileira”. A solução era lembrar que esse termo, “equívoco”, que significa algum mal-entendido ou confusão, pode ser o resultado de uma ambiguidade. A escola, claro, é uma instituição social. Ela pode e deve ser analisada como um objeto. Mas a escola não é só isso. Ela é o lugar que a gente frequenta, quando criança, para aprender. Expliquei então os conceitos de “pedagogia agentiva” e “pedagogia teórica” que expus no começo do livro. O equívoco, eu acrescentei, foi o surgimento de um amálgama entre a visão teórica e o aparelhamento da escola como meio: meio de promoção da justiça, meio da transformação social, meio do combate à opressão. A escola como meio.
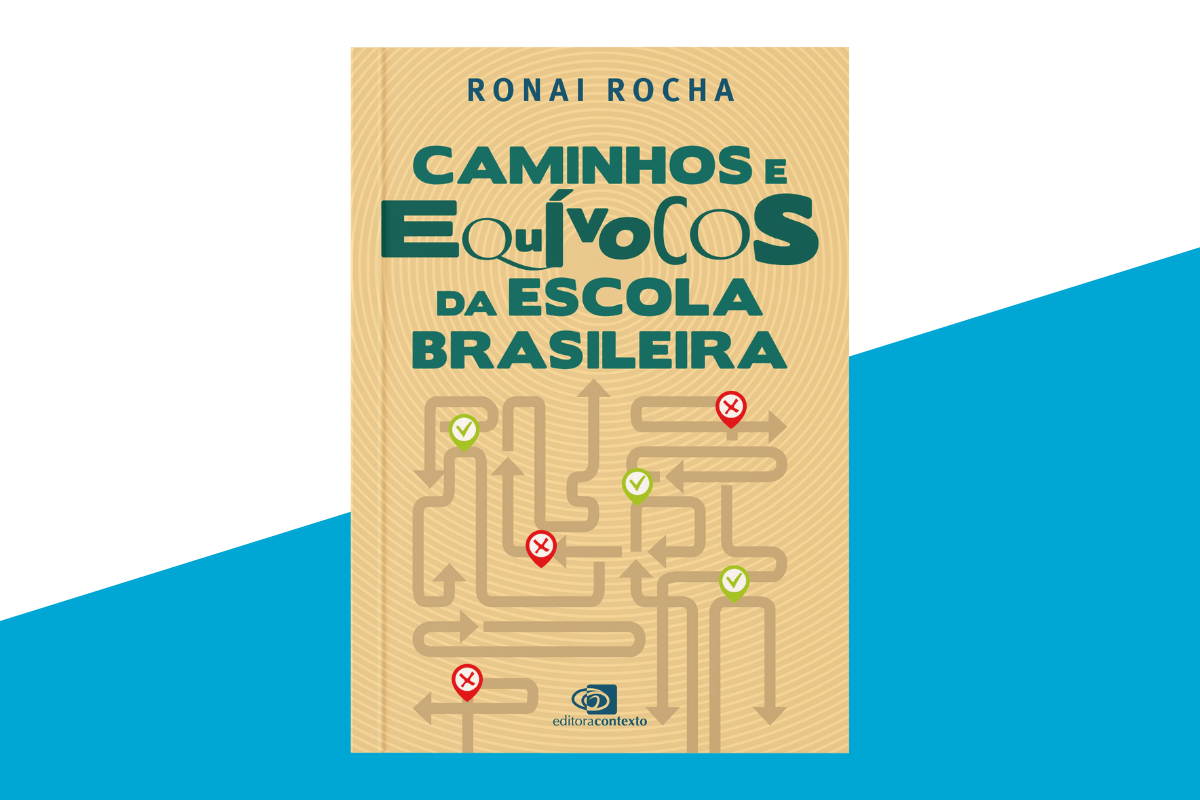
Eu amo de paixão essa minha amiga, entre outras razões, porque ela vive, ao modo dela, de acordo com a máxima de Aristóteles: por mais amiga que ela seja de Platão, ela é, em primeiro lugar, amiga da verdade. E a verdade para a qual a gente convergia era essa: se vemos a escola apenas como meio (para o fim da opressão, da injustiça, da formação de mão de obra etc.), a gente se perde: a criança vira um instrumento. Assim, fomos nos acertando quanto ao modo como eu uso a noção de “equívoco” no livro. Mas havia essa questão filosófica.
E o espírito? Onde entra nisso?
Disse para ela que a minha decisão consistiu em adotar a formulação clássica, que remonta à época do surgimento das grandes religiões e filosofias, a chamada “Era Axial”. Foi nessa época, entre 800 a.C. e 200 a.C., que a humanidade formulou as ideias que temos até hoje sobre a elevação pessoal por meio de representações valiosas sobre como devemos ser, como pessoas e como grupos. A humanidade formou uma noção de espiritualidade a que não podemos renunciar. A escola sempre soube disso. É evidente que ela nem sempre cumpriu suas obrigações com a formação da vida espiritual da forma mais adequada. Uma parte significativa da história da educação é muito triste. Mas há uma linha de formação, que vem desde o mundo antigo até hoje, que entende o compromisso com a formação espiritual. E nisso não há esse conceito da educação como meio para algo fora dela mesma.
— A formação do espírito humano é algo que tem um valor em si mesmo, isso é claro.
Estávamos nos aproximando de novo.
“Somos criaturas tais que precisamos de muita estrada de vida para conseguir elaborar razoavelmente as coisas que se passam em nossas vidas. Não nascemos com as ferramentas que nos permitem articular o que sentimos, o que vivemos. Aprendemos muito disso em nossas casas, com as pessoas que estão próximas a nós pelos direitos de nascimento e vizinhança. A escola nos traz muito mais do que isso. Ela pode nos trazer o mundo distante, as vozes distantes. E o mundo pode ter maravilhas de que não fazemos ideia, pode ter belezas que não imaginamos. O currículo é a apresentação, para as crianças, daquilo que há de melhor no mundo. O equívoco, então, foi esquecer o compromisso da escola com o espírito, em nome de uma visão “científica” da escola. Esquecemos o ponto de vista das crianças. Os professores foram pensados como correias de transmissão. Os currículos foram vistos como jogos de poder. E então veio o mundo das telas, dos smartphones. As crianças e os adolescentes levaram essas coisas para dentro da aula. Os professores tinham que se virar nos trinta segundos de atenção a que tinham direito, a cada hora. A escola, depois de ter sido detonada pelos teóricos, foi detonada por dentro. É disso que se trata”.
— É um pouco pior do que isso.
— Sim. As escolas públicas estão imprensadas entre os mecanismos de avaliação do governo (como as provas do IDEB), as fiscalizações informais (como as do Escola sem Partido), as pressões das prefeituras por bom desempenho, por pais, mães e responsáveis que não podem arcar com o custo de uma escola privada e querem que as crianças aprendam, pelas corporações didáticas que disputam o currículo, pelas consultorias e organizações que oferecem soluções didáticas e outras propostas menos decorosas. Sem falar nos governantes que querem intervir nas administrações, seja por meio da militarização da escola, seja mediante a criação de fórmulas de gerenciamento privado de professores públicos. Há de tudo, menos o respeito à vida espiritual da criança.
— O livro termina assim?
— O livro começa assim. O fim está no começo, no entanto. Eu mostro como as rotinas escolares, quando vistas de uma certa distância, podem ser a ocasião da vida do espírito. Eu analiso, a partir da página 86, uma ficha de autoavaliação escolar, de uma escola de Porto Alegre, e mostro como ela é um pequeno gesto de formação espiritual na vida escolar de uma criança. A gente quase não percebe isso. Os cumprimentos, o uniforme, os pequenos respeitos, as alternâncias de voz e vez, eu analiso esses aspectos da vida escolar, para chamar a atenção do leitor: veja, aqui estamos formando espiritualmente as crianças, pela simples razão de que estamos procurando elevá-las para longe de suas ânsias imediatas. O espírito humano é uma espécie de mediação, nesse sentido.
— Como o livro termina?
— O livro não termina, estamos no meio da coisa toda e ninguém tem uma solução fácil. O esforço da escola para recuperar sua mística, seu lugar de formação, está apenas começando. Temos que enfrentar a visão imediatista dos governantes, o grande mercado de consultorias, a indiferença de grande parte da população, e a disputa pelo espírito humano promovida pelos gigantes da tecnologia. E não podemos renunciar a alguma forma de avaliação da escola e dos professores. A autonomia deles vem sendo cerceada, e isso não é bom. Não há autoestima profissional que resista. O professor não pode ser um repassador de apostilas e plataformas. E ele é insubstituível. Não há maior conto da carochinha do que esse, da substituição dos professores por dispositivos de inteligência artificial. Esses dispositivos podem ser apenas auxiliares em momentos muito especiais e isso não tem nada a ver com a escola que funciona no interior do Brasil. Ali não há sequer um microscópio. Há uma professora, nem sempre razoavelmente remunerada. E há uma criança que quer aprender. Isso, por irônico que possa parecer, é um bom começo.
— E qual é a ironia?
— É essa: quando ninguém sabia mais o que fazer para livrar um pouco os adolescentes das garras dos smartphones e das redes sociais, alguém lembrou da escola. Isso só aconteceu porque, no fundo de todas as incompreensões das quais a escola foi alvo, brilhou essa verdade: ela é uma espécie de guardiã do espírito humano. De um espírito secular, é verdade. Mas espírito.
Ronai Rocha é doutor em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Foi professor na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Desde o início de sua vida profissional, pesquisa temas ligados à educação. Pela Contexto é autor dos livros Quando ninguém educa: questionando Paulo Freire, Escola partida: ética e política na sala de aula, Filosofia da educação e Caminhos e equívocos da escola brasileira.