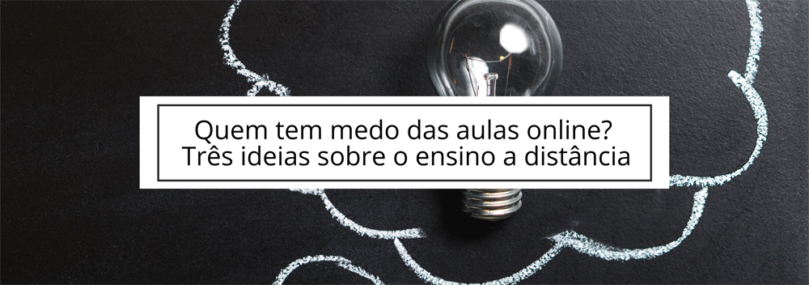“Reforçar a sala de aula física como o único lugar onde pode ocorrer a interação e a iluminação é, talvez inconscientemente, esquecer que a população massiva de nosso país jamais ocupará os bancos da universidade”.
A pandemia de coronavírus (COVID-19) não apenas vem rompendo rotinas, obrigando (quem pode) ao isolamento social e, principalmente, causando medo e sofrimento, como vem possibilitando uma discussão sobre Ensino a Distância (EAD) que, antes disso, raras vezes interessou à academia. No atual momento, muitas universidades estão aconselhando os docentes a manter contato ativo, ainda que virtual, com seus estudantes, organizando atividades, gravando aulas e sugerindo leituras.
Ante essa solução provisória de preservar algo do semestre numa situação de completa anormalidade – solução cujos efeitos é muito cedo para julgar – tem ocorrido certa reação que chegou a classificar a interação online como necessariamente ruim e desvalorizadora do trabalho docente. O senso-comum sobre “aulas online ruins” e a fetichização da aula presencial voltaram à tona, em debates não necessariamente educacionais.

Trabalhando com estratégias de EAD há mais de 15 anos, trago algumas reflexões sobre o tema, que resumo em três negativas que a seguir explicito em detalhes. O objetivo deste artigo é promover um debate mais aprofundado sobre a modalidade a distância de ensino, o que deve interessar não somente aos professores, mas também aos estudantes.
O EAD não é novidade.
O Ensino à Distância é uma área consolidada de práticas e de pesquisa que remonta à era pré-www. No passado, antes da internet, o ensino a distância era realizado por meio de correspondência, fascículos vendidos em bancas de jornal ou mesmo através de programas de televisão. Algumas instituições de ensino foram fundamentais para a consolidação da prática, como é o caso da Open University, fundada no Reino Unido em 1969.
Vencer as distâncias e a impossibilidade de seguir horários regulares de aulas eram as principais justificativas para as atividades que utilizavam o correio, imagens em postais e aulas gravadas em fitas cassete. Com o tempo, a tecnologia mudou, surgiram os AVA (ambientes virtuais de aprendizagem), mas mantiveram-se as justificativas: há pessoas que jamais terão acesso a conteúdos ou debates se não for por meio do EAD.
No Brasil, desde a década de 1990, a introdução dos sistemas informatizados ou, como se convencionou dizer, do “uso do computador”, gerou uma série de reações que variaram do otimismo puro à denúncia das limitações presentes no contexto educacional brasileiro. Lemos ou ouvimos relatos de professores preocupados com a forma como as novas tecnologias se relacionavam com o ambiente de ensino e deles exigiam dominar técnicas e linguagens. Muitos lançaram-se em cursos de formação de fim de semana para aprenderem a lidar com plataformas digitais pouco amigáveis, enquanto se lhes martelavam palavras de ordem como “computador substituindo professor”, “fim da lousa e giz”, “professores resistentes às novas tecnologias” ou “inserção dos jovens no mercado de trabalho via alfabetização digital”.
Ainda em 1993, José Armando Valente, pesquisador especialista em educação a distância, vaticinou que a utilização do computador como meio para transmitir a informação ao aluno apenas manteria a prática pedagógica vigente, ou seja, informatizaria processos de ensino preexistentes sem questionar dinâmicas tradicionais nem investir na formação dos professores que, naquele momento, não conheciam o mundo digital. Com efeito, o Programa Brasileiro de Informática em Educação (Proinfo), criado em 1997 pela Secretaria de Educação a Distância do Ministério de Educação (MEC), com o fito de introduzir a tecnologia de informática na rede pública de ensino, focou em “capacitar” os professores para que aprendessem comandos e utilizassem softwares específicos, perpetuando profissionais obsoletos. Tratou-se, portanto, de entender o EAD apenas como técnica.
Se a era digital veio exigir novas habilidades e competências para a competitividade econômica com vistas ao mercado de trabalho, foi a escola que passou a ser a responsável por ensiná-las, com o apoio de programas federais e estaduais associados a empresas privadas de tecnologia. Conforme apresentado por Vera Lucia Menezes de Oliveira e Paiva, o Plano Nacional de Educação (2001) e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica (2002) previram a preparação dos professores nos cursos de formação para o uso de novas tecnologias de informação e comunicação, e a integração delas em suas práticas docentes. Essa formação envolvia não só pensar a técnica, mas também as abordagens pedagógicas que dessem conta da nova linguagem.
Com semelhante definição de busca da tecnologia e da inclusão social por meio do ambiente digital, surgiram projetos como os Telecentros (na cidade de SP a partir de 2001 e, no âmbito federal, a partir de 2009); o PROUCA (Um Computador por Aluno, 2010), o Programa Nacional de Banda Larga do Governo Federal (2010) e o Observatório Nacional de Inclusão Digital (2015), cujas justificativas partilhavam da crença de que ter acesso ao computador e à internet diminuiria as desigualdades sociais entre os sujeitos que compunham as escolas participantes mas que, a contragosto, revelavam processos que, no Brasil, apenas potencializaram as desigualdades na instalação das telecomunicações desde a sua origem.
Em todas essas iniciativas, a imagem de uma lacuna a ser vencida entre professores “imigrantes digitais” e estudantes “nativos digitais” – na metáfora criada por Marc Prensky – reforçava a necessidade de dominar a nova linguagem para tornar os conteúdos ágeis e atraentes aos jovens estudantes, conquistando sua “errática atenção”. Com o tempo – Prensky criou sua metáfora em texto publicado em 2001 – a distinção “imigrantes versus nativos” digitais foi desaparecendo: boa parcela dos professores em sala de aula da Educação Básica (e Superior) é, hoje, composta por nativos digitais. Mas se atualmente não é mais a falta de familiaridade com o mundo digital o obstáculo a ser transposto, qual é?
O EAD não é “dar aula pelo computador”
Ainda parece ser necessário pontuar que EAD é uma coisa, “dar aula pelo computador”, outra. O EAD utiliza ambientes e ferramentas que não são posteriormente acrescentados a um plano de trabalho, mas sim presidem a concepção das aulas e dos cursos. Os especialistas em EAD estudam formas e ritmos de aprendizagem, tecnologias que possibilitem interações e avaliações a distância e adequação a ritmos individuais de aprendizagem, como por meio da metodologia self-paced learning (aprendizagem no próprio ritmo, uma impossibilidade no corpo a corpo da aula presencial). Em EAD há conhecimento acumulado e produção de conteúdos, que podem ou não ser reaproveitados em outras situações de aprendizagem.
Em pleno 2020, afirmar que jovens não conhecem nem estão preparados para essas experiências tornou-se falacioso. Pesquisas recentes mostram como – para usar uma expressão coloquial – “mexer na internet” é algo que os jovens aprendem sozinhos ou com alguma ajuda de amigos ou familiares, mas que o uso de aplicativos para busca de conteúdos é dramaticamente menor do que para interações sociais ou jogos online, atividades que podem consumir várias horas do dia e da noite. Nos últimos anos, foi significativo o ingresso das redes digitais e sociais na realidade dos ensinos público e privado. Essa nova realidade, na qual o Brasil apareceu, em 2017, na 18ª posição em um ranking de 75 países em termos de possibilidades de acesso à internet, intensifica o desafio do uso das ferramentas online para a criação de ambientes de aprendizagem que enfatizem a construção do conhecimento. Em termos da prática docente, tal uso deveria dar novos sentidos ao aprendizado e propor novas interpretações para as experiências vividas, trazendo-as para a realidade de sala de aula virtual.
Simplesmente “passar” os conteúdos da sala de aula para o online está longe de ser satisfatório. Constatação óbvia, uma vez que a arquitetura de qualquer curso é pensada desde o princípio para, de forma sincrônica e diacrônica, ora contar com o docente, ora prescindir de sua presença. Com o EAD não é diferente, mas seu princípio é outro: as aulas voltam-se a um grande público, geralmente de não-especialistas. Falar via plataformas digitais com estudantes que já conhecemos ou cujo perfil padrão social e intelectual dominamos é infinitamente mais simples do que se remeter a esses amplos e heterogêneos públicos. E se lousa e giz continuam instrumentos amplamente utilizados, novas tecnologias de fato vieram para propor novas formas de aprendizagem, dentro e fora da sala de aula.
Com qualquer uma, professor e o aluno continuam sendo no EAD os grandes protagonistas no processo de aprendizagem. O processo de ensino não é neutro e nem o recurso tecnológico é uma intervenção isenta de intenções, finalidades ou crenças. As mediações operacionalizam o ensino, dando-lhe visibilidade, mas o seu sentido não está estabelecido por tais mediações; tampouco as tecnologias estão tornando obsoletas a leitura, o debate ou as análises trazidas pelos professores. Se as potencialidades das mídias digitais se desdobraram em múltiplas linguagens e ultrapassaram a descrição inicial do computador como um pretenso substituto do professor, cabe trabalhar com a inevitabilidade da presença da internet exatamente dentro da relação professor-aluno.
O EAD não é panaceia nem armadilha
A importância da inclusão digital no Brasil é indiscutível, pois a exclusão digital não está relacionada somente ao acesso à tecnologia, mas à falta de capacitação para usufruir de seu potencial. De acordo com o censo do Ministério da Educação, realizado em 1999, somente 3,5% do total das escolas de ensino básico estavam conectadas à Internet. Nas escolas privadas, que compreendiam em torno de 10% do total de alunos, o computador e o acesso à internet eram disseminados e utilizados como mecanismo de divulgação de uma imagem de modernidade do ensino ali praticado. Segundo levantamento da Fundação Getúlio Vargas, do total das escolas conectadas à internet 62.7% são particulares. Já os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que, em 2012, houve um avanço de 6,8% no uso de internet em relação ao ano anterior (5,3 milhões de novos internautas no intervalo de um ano). Dentre os grupos etários analisados, a faixa de 15 a 17 anos apresentou maior percentual de pessoas que acessaram a rede (76,7%). Uma pesquisa da empresa de consultoria digital Comscore realizada em 2015 classificou o país como “digitalmente maduro”, pois 63% dos seus 84 milhões de usuários de internet afirmaram praticar pelo menos onze usos distintos da rede. Note-se, porém, que há disparidade entre as atividades realizadas: no topo estão as redes sociais e, na outra ponta, atividades como cursos online, procurar emprego ou realizar compras.
Uma pesquisa da empresa de consultoria digital Comscore realizada em 2015 classificou o país como “digitalmente maduro”, pois 63% dos seus 84 milhões de usuários de internet afirmaram praticar pelo menos onze usos distintos da rede. Note-se, porém, que há disparidade entre as atividades realizadas: no topo estão as redes sociais e, na outra ponta, atividades como cursos online, procurar emprego ou realizar compras.
Segundo a PNAD Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua), o Brasil fechou 2016 com 116 milhões de pessoas conectadas à internet, o equivalente a 64,7% da população com idade acima de 10 anos – porcentagem que saltou para 74% em 2017. Os indivíduos com idade entre 18 e 24 anos apresentavam a maior taxa de conexão: 85% deles estavam online. Já os brasileiros com mais de 60 anos apresentavam o menor índice, 25%. O celular continua a ser o principal aparelho para acessar a internet no Brasil. Em 2016, o eletrônico era usado por 94,6% dos internautas, à frente de computadores (63,7%), tablets (16,4%) e televisões (11,3%). Assistir vídeos (programas, séries e filmes) foi apontado por 76,4% dos brasileiros conectados e superou as conversas por chamadas de voz ou vídeo, mencionadas por 73,3%. Os dados corroboram o que afirmara o sociólogo Bernardo Sorj, ao estudar o impacto da exclusão digital na desigualdade social e nas oportunidades e qualidade de vida: a exclusão digital possui forte correlação com as outras formas de desigualdade social, e, em geral, as taxas mais altas de exclusão digital encontram-se nos setores de menor renda.
Na Educação Básica, ou na Educação Superior Privada, não raro o EAD configurou em tentativas de substituir a figura do professor para eximir-se da responsabilidade social da educação dos jovens ou da responsabilidade geral para com os salários e condições de trabalho dos mestres. Ocorre que na Educação Superior Pública, laica e socialmente referenciada, esse é um caminho necessário, inclusive para fazer face aos grandes conglomerados educativos que fazem disso seu ganha-pão e dos “palestrantes-estrela” que tem milhares de seguidores em seus canais de YouTube mas pouca preocupação com seus conteúdos. O problema deixa de estar do EAD e passa a residir em quem está produzindo e veiculando os conteúdos. Por tempo demais a universidade pública no Brasil desconsiderou as centenas de interessados que poderiam ser beneficiados online, para depois assustar-se diante de sua pouca relevância na guerra contra as fake news e a desinformação.
Por fim, o que vemos e o que precisamos ver
Em uma palestra proferida no Brasil em 2010 (Fronteiras do Pensamento) e publicada em forma de livro em 2014 , o historiador italiano Carlo Ginzburg não apenas observou que o Google – o website mais visitado em todo o mundo – pode ser entendido como uma prótese na continuação de nossos corpos, sem o qual jamais teríamos acesso a uma miríade de informações, como ainda arriscou dizer que leitura fragmentária preconizada pela rede, sintetizada pela intertextualidade, não era muito diversa da forma como o homem sempre leu, ou seja, escolhendo, selecionando, recortando . Nessa aula (que pode ser assistida online) ele afirmou que “A internet é um instrumento potencialmente democrático”.
Taxado de otimista por alguns críticos, Ginzburg não estava atento à personalização da internet por meio do que Eli Pariser chamou de “filtros-bolha”: “a internet nos mostra o que acha que queremos ver, e não necessariamente o que precisamos ver”. Pelos filtros (e algoritmos), desaparecem as opiniões contrárias e as ideias que nos desafiem e, na ausência de um fluxo de informações heterogêneo e por vezes desconfortável, não estão garantidos nem o ambiente democrático, nem “um sentido de vida pública e de responsabilidade cívica”.
Mas o que Ginzburg também deixou claro é que, se para usar a internet é necessário ter privilégios culturais – por sua vez atrelados a privilégios sociais – é exatamente por essa razão que as escolas e as universidades precisam da internet e precisam ensinar a lidar com ela, suas informações, conteúdos e possibilidades. Reforçar a sala de aula física como o único lugar onde pode ocorrer a interação e a iluminação é, talvez inconscientemente, esquecer que a população massiva de nosso país jamais ocupará os bancos da universidade.
MENEGUELLO, Cristina. Quem tem medo das aulas online? Três ideias sobre o ensino a distância. In: Café História – história feita com cliques. Disponível em: https://www.cafehistoria.com.br/quem-tem-medo-das-aulas-online-ensino-a-distancia/. Publicado em: 23 mar. 2020. ISSN: 2674-5917. Acesso: [17/04/2020].