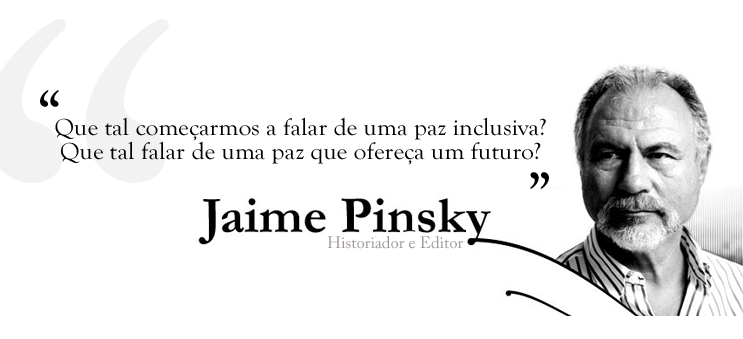Queremos mesmo? Neste caso, de que paz falamos? Que tal começarmos a falar de uma paz inclusiva? Que tal falar de uma paz que ofereça um futuro? Que tal falar de uma paz que não discrimine mulheres e crianças, uma paz que leve os professores a ensinar sem medo de repressão, uma paz que deixe todo mundo orar para o Deus que quiser (e se quiser) e para o profeta que lhe aprouver, sem medo de retaliação, de vingança, de bombas, de decapitação? Uma paz, enfim, que permita que a História seja contada com liberdade, pois sem liberdade não há História confiável. Que seja fiel ao acontecido, não uma versão engendrada para enganar ingênuos e satanizar o adversário.

Antes de tudo, uma informação aos desavisados ou aos mal- intencionados (aos antissemitas não adianta ensinar, eles são doentes, como qualquer fanático): Israel não é uma manifestação do imperialismo ocidental, uma estrutura política destinada a espoliar riquezas de continentes, povos e nações saqueados por nações industrializadas. Israel não tem nada a ver com ingleses na África do Sul, belgas no Congo, portugueses em Angola, ingleses na Índia, holandeses no Pacífico, russos na Ásia Central e no Báltico e assim por diante. A origem de Israel é outra. Tem a ver, antes de tudo, com jovens que viviam na Europa, em áreas da periferia do Império czarista, onde os judeus eram constantemente vítimas de pogroms (perseguições, massacres). Muitos desses moços, em contato com literatura marxista, inconformados com as perseguições de que eram vítimas, concluíram que esse estado de coisas só mudaria quando os judeus voltassem a trabalhar no campo em atividades produtivas, aceitassem viver em comunidade, desenvolvessem atividades produtivas coletivamente. Ou seja, o oposto da dominação imperialista. Esses jovens instalaram-se em terras compradas de proprietários árabes, fundaram colônias agrícolas coletivas (o kibutz, plural kibutzim) ou colônias cooperativas (moshav, plural moshavim). Estudiosos do tema contam que proprietários de terra árabes, que utilizavam mão de obra barata também árabe, não viam com bons olhos a presença de jovens socialistas, que pregavam a propriedade coletiva não só dos meios de produção, como também das habitações, da comida e até da roupa de trabalho, além da igualdade entre homens e mulheres.
Os anos 1930 e parte dos anos 1940 foram terríveis para os judeus. De um lado Stalin, responsável por uma infinidade de crimes contra o povo russo (e de outras nacionalidades); de outro, Hitler e seus nazistas, cuja atividade genocida é por demais conhecida. Mesmo depois do Holocausto, judeus encontraram muitas fronteiras fechadas (entre as quais as dos Estados Unidos e do Brasil). A Palestina, que não continha nenhum Estado nacional na ocasião, tornou-se um dos poucos lugares para onde podiam afluir os poucos sobreviventes judeus da Europa. Essas pessoas, esses sobreviventes, terão sido a tal “ponta de lança do imperialismo inglês ou americano”? É preciso ser idiota pretencioso e desinformado ou alguém dotado de extrema má-fé para acreditar nisso.
Quando, em 1947, o presidente da sessão, na ONU, o diplomata brasileiro Osvaldo Aranha, colocou em votação a partilha da Palestina, não havia na região nenhum Estado organizado, nem inglês, nem árabe, nem judeu. Mas a comunidade judaica já tinha uma central sindical, diversos partidos políticos (a maioria de esquerda), uma orquestra sinfônica e uma excelente universidade. A partilha, aprovada por larga maioria de votos – 33 nações votaram a favor, 13 contra e 10 se abstiveram (e a União Soviética votou a favor) –, criava dois Estados: um judeu e um árabe. Os judeus, organizados, aceitaram o resultado. O que aconteceu depois, todos sabemos. Países vizinhos se uniram e, a pretexto de ajudar os palestinos, invadiram o território destinado aos judeus. Os árabes que moravam na região acreditaram na vitória da coligação de 7 países vizinhos, que prometeram, literalmente, “jogar os judeus no mar” (e ficar com parte do espólio dos vencidos, como declararam), algo tecnicamente viável caso tivessem vencido. Mas os judeus resistiram e acabaram derrotando os invasores. O motivo da vitória foi candidamente explicado por um habitante judeu, na ocasião: “Derrotamos os adversários porque, se fôssemos derrotados, não teríamos para onde ir”. Surpreendidos e assustados, muitos árabes locais fugiram temendo represálias. Saíram, imaginando que poderiam voltar. Isso não aconteceu. Até hoje não se chegou a um acordo sobre algum tipo de retorno. Também os judeus expulsos do Iemen, do Irã e de outros países mulçumanos nunca tiveram oportunidade de retornar. Tudo isso precisa ser resolvido de forma justa. E tem muita gente em Israel favorável a negociações, desde que o Estado judeu seja reconhecido pelos palestinos e pelos vizinhos.
Que tal, em vez de lançar manifestos demagógicos, distantes da verdade dos fatos, lutarmos, todos juntos, por uma paz justa, sem preconceitos?
Jaime Pinsky é historiador e editor. Completou sua pós-graduação na USP, onde também obteve os títulos de doutor e livre-docente. Foi professor na Unesp, na própria USP e na Unicamp, onde foi efetivado como professor adjunto e professor titular. Participa de congressos, profere palestras e desenvolve cursos. Atuou nos EUA, no México, em Porto Rico, em Cuba, na França, em Israel, e nas principais instituições universitárias brasileiras, do Acre ao Rio Grande do Sul. Criou e dirigiu as revistas de Ciências Sociais, Debate & Crítica e Contexto. Escreve regularmente no Correio Braziliense e, eventualmente, em outros jornais e revistas.