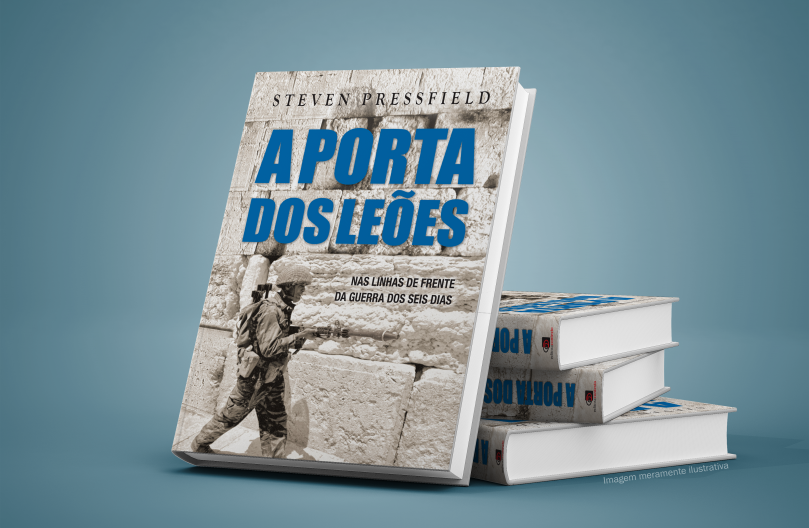O livro A Porta dos Leões, a seu modo, segue a melhor tradição da literatura de Ernst Jünger, que demonstrou o caráter quase erótico da guerra, evento em que a tremenda proximidade da morte desperta os instintos mais selvagens de quem está no front. Mas, ao contrário do escritor alemão dos anos 20, cuja estética se pretendia apolítica, como se a guerra fosse bela em si, o autor do recém-lançado livro A Porta dos Leões, Steven Pressfield, constrói uma narrativa que justifica, a cada palmo conquistado pelo Exército de Israel na Guerra dos Seis Dias, a própria existência do Estado judeu. 
Pode-se dizer que a Guerra dos Seis Dias, de 5 a 10 de junho de 1967, foi o marco que definiu Israel como orgulhosa potência militar e moral. Não é para menos: um país que havia sido constituído apenas duas décadas antes, por um povo que escapara por um triz da dizimação completa na Segunda Guerra, e que não contava com a ajuda de nenhuma das potências da época, pouco interessadas em melindrar os árabes, enfrentou simultaneamente os exércitos de quase todos os vizinhos, muito mais numerosos e bem armados, e os bateu em menos de uma semana de combates. De quebra, retomou Jerusalém, cuja parte velha, que abriga o local mais sagrado do judaísmo, o Muro das Lamentações, havia sido conquistada pela Jordânia na Guerra de Independência de Israel, em 1948.
Do ponto de vista israelense, a luta de 1967 era de vida ou morte – a derrota, segundo todas as probabilidades, significaria a extinção daquele minúsculo país, como desejavam os países árabes. Mas eis que o gênio militar israelense se manifestou na ocasião, quase como um milagre, dos tantos que se contam na história bíblica dos judeus.
Enfrentando a hesitação e o ceticismo dos políticos de Israel, os generais e seus comandados, imbuídos de uma certeza quase religiosa, sob a liderança carismática de Moshe Dayan e Ariel Sharon, lançaram os judeus no campo de batalha contra um inimigo poderosíssimo. O final todos sabemos e pode ser visto ainda hoje em parte do mapa de Israel – com a ocupação das colinas de Golã, que pertenciam à Síria, e da Cisjordânia, tomada da Jordânia -, além de Gaza e do Sinai, que eram do Egito.
Pressfield narra essa épica vitória de Israel não pelo viés político, mas é esse aspecto que permeia todas as reações dos personagens escolhidos pelo autor – os soldados e os comandantes que participaram da guerra. Não se trata de história oral, pois tal método pressupõe obter dos entrevistados mais do que a rememoração padronizada dos acontecimentos de que eles tomaram parte. O livro de Pressfield se limita a permitir que os personagens contem os detalhes que lhes interessam, deixando de lado os que, obviamente, poderiam causar algum embaraço. Não há nenhuma tentativa de buscar o contraditório. Nesse sentido, o livro nada tem a ver com história nem com jornalismo, cumprindo a função de sustentar com vigor um discurso segundo o qual Israel apenas exerceu seu direito – divino, em alguns aspectos – de se defender.
“Sou judeu”, escreve Pressfield no prólogo. “Queria contar a história dessa guerra judaica, combatida por judeus, para preservar a pátria judaica e o povo judeu. Não pretendo ser imparcial.” Essa chocante honestidade do autor poderia servir como um convite para que o leitor nem se desse ao trabalho de ir adiante, já que as páginas seguintes reservam, declaradamente, uma militância escancarada. Mas A Porta dos Leões, a despeito disso tudo, é um grande livro – que acaba sendo, ele mesmo, um documento histórico, pois resume como poucos a mentalidade israelense nesse meio século de lutas e de construção de sua identidade nacional, em franca negação da imagem do judeu enfraquecido por milênios de perseguição.
“Sou judeu”, escreve Pressfield no prólogo. “Queria contar a história dessa guerra judaica, combatida por judeus, para preservar a pátria judaica e o povo judeu. Não pretendo ser imparcial.”
O que moveu os israelenses naquela oportunidade, como ainda hoje, foi a noção do En Brera, que em hebraico significa “não há alternativa”, a não ser lutar. As vozes do livro de Pressfield, editadas inteligentemente de modo a dar a sensação de um thriller, em que o leitor muitas vezes se sente no meio das batalhas, repetem a todo momento que só fizeram o que tinha de ser feito.
Os impressionantes detalhes da estratégia israelense, que pegou os árabes de surpresa e entrou para a história como um dos maiores feitos militares de todos os tempos, servem para construir a imagem de um país que nem precisa de líderes, pois cada um, ao que parece, sabe exatamente o que tem de fazer, como a preservação de Israel fosse o destino incontornável dos judeus. A Porta dos Leões serve, assim, como uma espécie de narrativa épica, quase cinematográfica, do mito fundador da Israel moderna.