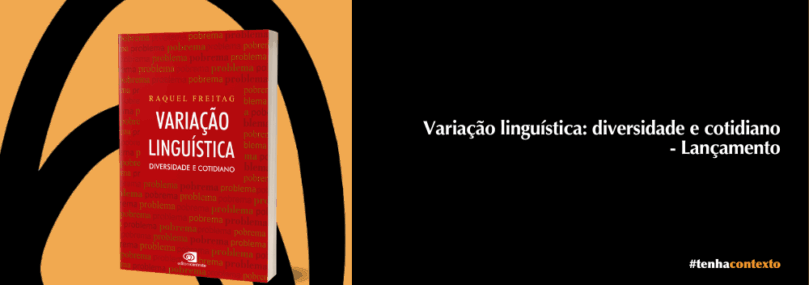A maneira como lidamos com a diversidade linguística no nosso cotidiano importa. Em algum momento, você deve ter percebido diferenças no modo como outra pessoa falou. A percepção disso é tão forte que está até na Bíblia, com os efraimitas sendo assassinados por não pronunciarem direito uma palavra e Pedro, reconhecido pelo jeito que falava.
Ao ouvirmos um pequeno traço do sistema, quando, por exemplo, uma pessoa fala “pobrema”, automaticamente fazemos uma série de associações e inferências, por vezes negativas, que vão desde o local onde essa pessoa mora, até o quanto ela ganha e a escolaridade dela. Quando isso acontece, dizemos que a pessoa sofreu preconceito linguístico. Há um corpo de evidências de pesquisa sociolinguísticas que apresentam essa perspectiva. Mas como isso acontece?
E no caminho contrário: o que acontece quando a pessoa que fala “pobrema” ouve “problema”? A diversidade linguística tem efeitos diferentes em perfis de grupos distintos. A coletânea organizada por Marcus Maia, Psicolinguística: diversidades, interfaces e aplicações, publicada em 2022 pela Contexto, por exemplo, problematiza essa questão sob a perspectiva da psicolinguística, que tem mostrado abertura para estudos com diversidade de populações, variáveis, métodos e técnicas de análise.
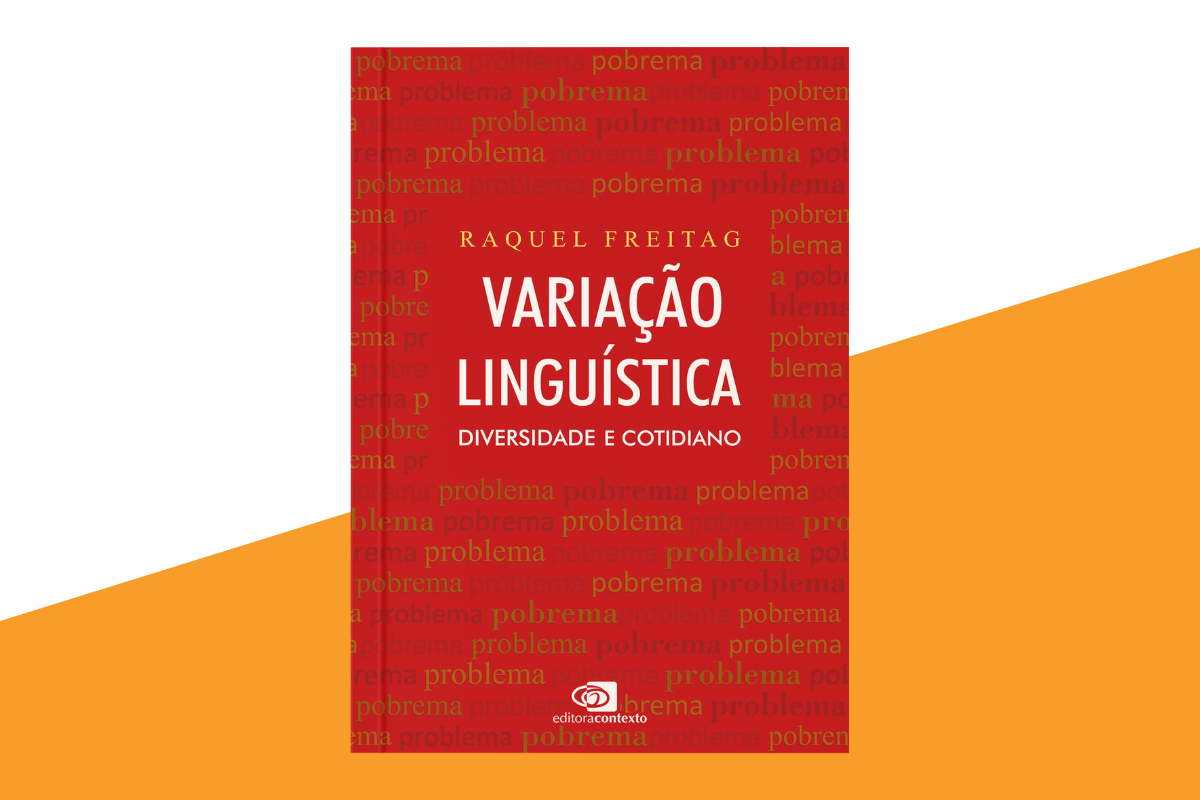
Em tempos cuja diversidade linguística entra na pauta política, como a linguagem neutra e a simples, por exemplo, e são evocados argumentos relativos às questões de compreensão para justificar tomadas de posição, é preciso estabelecer bases metodológicas consistentes para produzir evidências robustas e cientificamente válidas nesse debate.
Por que ouvimos algo de maneira tão diferente e achamos que é o mesmo? Por que mudanças tão profundas na gramática de uma língua sequer são percebidas pelas pessoas? E por que uma mudança mínima num traço da língua gera efeito tão grande a ponto de uma pessoa ser acusada de querer degenerar a língua, deturpar a gramática e sofrer outras recriminações a respeito disso?
Essas perguntas são um convite para você adentrar o campo do processamento da variação linguística e entender como lidamos com a diversidade no cotidiano. Na agenda de pesquisa sociolinguística, tradicionalmente os estudos se dividem quanto ao foco na produção e na percepção. Para responder àquelas perguntas, é preciso ir além dos estudos de produção linguística (como as pessoas empiricamente usam a língua) e de percepção linguística (como os falantes julgam os outros a partir dos usos linguísticos pessoais), incorporando-se a dimensão do processamento (Que formas linguísticas em variação são salientes? Em que contexto? Qual é o esforço envolvido?).
As respostas a essas questões vêm sendo objeto de estudos da sociolinguística, psicolinguística e psicologia da linguagem, junto às ciências cognitivas, que tomam como foco o processamento da variação linguística para tentar desvelar o custo cognitivo do processamento de dado traço linguístico variável em uma língua, considerando-se os padrões de recorrência da produção e os padrões de julgamento da percepção.
Esses estudos tentam identificar quem fala e em que contexto (produção), e o que as pessoas pensam sobre esses diferentes jeitos de falar (percepção). Mas nem sempre o que ouvimos é o que de fato ouvimos. Existem vários processos cognitivos que acontecem entre o nosso ouvir e o nosso perceber a língua. As dinâmicas do processamento linguístico são complexas e, ao mesmo tempo, instigantes. E acontecem a todo o momento! Por isso o foco deste livro é a diversidade no cotidiano: como lidamos com a variação linguística?
Não é necessário conhecimento avançado ou altamente especializado sobre sociolinguística ou psicolinguística para acompanhar tal discussão nesta obra. Sempre que necessário, os termos técnicos são detalhados, e os antecedentes necessários para a compreensão do argumento apresentam-se de maneira didática e acessível a não especialistas.
O capítulo “Processamento da informação linguística e social” estabelece a variação como condição natural das línguas, com foco na diversidade linguística, sua importância cultural e os processos sociolinguísticos e psicolinguísticos envolvidos na variação linguística. O enfoque da psicologia da linguagem e da psicologia social também é introduzido à discussão sobre variação linguística, em especial, como a categorização social influencia a percepção da língua e da identidade e como as diferentes maneiras de falar podem impactar a percepção coletiva, construindo indexação social.
O capítulo “Consciência, saliência e frequência” apresenta o conceito de consciência sociolinguística, nosso conhecimento sobre a variação linguística e como este é constituído por saliência e frequência, dois parâmetros explanatórios da sociolinguística que interagem fortemente com os princípios da psicolinguística, cuja compreensão é essencial para desvelar os mecanismos que sustentam tanto a formação das normas linguísticas quanto o modo como a variação linguística é processada, refletindo não apenas sobre como a língua é usada, mas também sobre como ela é regulada socialmente. Este capítulo, ao explorar tais processos, busca lançar luz sobre a complexa interação entre o automático e o controlado na construção das normas linguísticas.
O capítulo “Como medir o processamento”, além de explorar relação entre observação e experimentação, com foco na produção e na percepção da variação linguística, propõe métodos para o estudo do processamento, com o uso de biomarcadores sociolinguísticos, que nos permitem acessar o conhecimento inconsciente da variação linguística.

O estudo do processamento da variação linguística visa compreender os processos subjacentes ao preconceito linguístico e a capacidade de controle de tais julgamentos. Para isso, são utilizadas abordagens observacionais e experimentais, que permitem examinar como as variantes linguísticas são percebidas e avaliadas em diferentes contextos. Essas abordagens ajudam a identificar os mecanismos que sustentam os preconceitos, bem como as estratégias para mitigá-los, promovendo uma compreensão mais profunda sobre as dinâmicas sociolinguísticas.
No capítulo “Diversidade linguística na sociedade”, além de consolidarmos a importância da consciência sociolinguística, exploramos suas aplicações práticas em diversos campos, como a educação, a comunicação pública e a inteligência artificial. Na escola, a conscientização sobre a variação linguística pode favorecer um ambiente mais inclusivo, em que as diferentes formas de falar são valorizadas e compreendidas. No campo da comunicação pública, a conscientização pode ajudar a evitar a marginalização de variantes linguísticas associadas a grupos sociais específicos. Já na inteligência artificial, a integração de variantes linguísticas é crucial para o desenvolvimento de algoritmos mais inclusivos e representativos.
O conhecimento da variação linguística contribui para uma sociedade mais equitativa e diversa linguisticamente, e este livro pretende guiar quem tem interesse em adentrar nesse campo.
Boa leitura!
Raquel Freitag é linguista e professora do Departamento de Letras Vernáculas da Universidade Federal de Sergipe (UFSE), com doutorado em Linguística pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), e estuda o processamento da variação linguística. Pela Contexto é coautora dos livros História do Português Brasileiro Vol. IV e Psicolinguística: diversidades, interfaces e aplicações, além de autora de Não existe linguagem neutra! Gênero na sociedade e na gramática do português brasileiro.