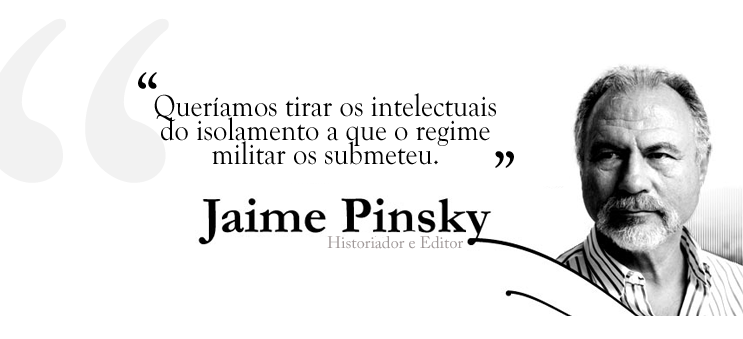Era o ano de 1973. O governo militar, que havia tomado o poder em 1964, agora arrotava realizações, embaladas em patriotismo primário. Embora na universidade — e em poucos outros locais — ainda houvesse um olhar crítico, a mídia amordaçada, indiferente ou venal, não revelava os percalços que o governo enfrentava e apresentava ao mundo um suposto “milagre brasileiro”. O regime, estabelecido à força, havia quase uma década, era apresentado como eficiente, honesto, capaz e até democrático.
Seria impraticável revelar a verdade na tevê ou em jornais diários, mas por que não tentar fazer isso por meio de uma publicação de ciências humanas e sociais, dirigida por intelectuais de peso, com artigos importantes sobre economia, sociologia, história, literatura, por exemplo? Afinal, naquele momento eu era responsável pela área de humanas de uma editora de São Paulo. Já tinha várias obras de minha autoria publicadas, era doutor pela USP, tinha credibilidade. Quem sabe conseguiria montar uma equipe de intelectuais relevantes e fazer a revista circular.
Decidi apresentar a ideia a um amigo, o sociólogo José de Souza Martins. Ele, de início, não acreditou na possibilidade de o projeto se concretizar. Teimoso, insisti. “Só se convidarmos um intelectual muito importante, muito conhecido. Aí,talvez, os militares não queiram prendê-lo, temendo uma possível repercussão internacional dessa prisão”. “Sem ele”, concluía Martins, “a revista nem decolaria, nós dois seríamos presos. E sem repercussão que compensasse o sacrifício.” Não foi difícil achar o nome do intelectual notório. Florestan Fernandes. Ele havia retornado ao Brasil recentemente, após uma temporada em Toronto, para onde viajara, depois que fora aposentado, compulsoriamente, de seu cargo de professor titular de sociologia da USP.
Ligamos para Florestan, combinamos a visita, rumamos para a Rua Nebraska, onde vivia, e expusemos o projeto. Lembro-me de cada minuto de nossa conversa. Florestan nos ouviu com atenção. Daí nos encarou, como se fôssemos uma dupla de malucos apresentando um plano para invasão da China, ou atacar o Pentágono. Levantou-se, disse que nossa chance de sermos presos pela repressão era enorme. E, para meu espanto, acrescentou: “Topo”. Em seguida passou a listar nomes de alguns dos maiores intelectuais brasileiros. Disse que podíamos considerar o nome dele como fazendo parte da comissão editorial da revista, desde que esse pessoal aceitasse fazer parte do conselho de redação.
Convencer figuras como Sergio Buarque de Holanda, Antonio Cândido, Maria Conceição Tavares, Octavio Ianni, Fernando Henrique Cardoso, Thales de Azevedo e tantos outros foi uma tarefa a que me dediquei com prazer. O nome de Florestan abria portas, sem dúvida. Além disso, todos estavam sequiosos em ter um veículo de debate intelectual de alto nível, sem repressão, onde as ideias pudessem circular livremente. Montamos rapidamente nosso triunvirato de editores e os 15 membros do conselho de redação. Fizemos nossa primeira reunião no escritório que seria a sede da revista e tomamos uma série de decisões.
Decidimos batizá-la como Debate&Crítica, para expor, de cara, seu papel. Seria uma publicação quadrimestral, declaradamente de oposição, mas sem ligação com nenhum grupo político. Não queríamos que fosse órgão de nenhuma das diferentes vertentes oposicionistas, embora todas as pessoas pudessem submeter seus artigos à comissão editorial. Cabia-nos dar os pareceres, mas poderíamos solicitar aos companheiros do Conselho de redação um parecer, no caso de os textos serem de áreas em que não nos sentíssemos à vontade para avaliar. Queríamos tirar os intelectuais do isolamento a que o regime militar os submeteu, desejávamos que a revista fosse o elemento de ligação entre todos. Debate&Crítica deverá ser o veículo a partir do qual o diálogo, tão dificultado pela ditadura, poderá voltar a existir.

Era uma meta ambiciosa. O caminho entre a declaração de intenções e a realização me parecia longo e difícil. E era, para mim, um desafio novo. Com pouco mais de 30 anos eu estava aceitando uma responsabilidade política nova, a de provocar e manter abertos canais de diálogo entre democratas com diferentes concepções do que deveria ser feito para que o Brasil voltasse à normalidade democrática. Tínhamos oposicionistas com ideias muito diferentes e parecia idealismo ingênuo imaginar que todos se unissem em volta do nosso projeto. Teríamos que convencê-los que o momento era o de fazer uma frente poderosa contra a ditadura, que era o inimigo comum. A revista poderia funcionar como elo entre pessoas e correntes com diferentes concepções. Em um segundo momento, quando a ditadura já estivesse vencida e as diferentes concepções fossem colocadas na mesa (por meio de partidos que as representassem) a revista poderia até perder sua razão de viver. Mas não estávamos ainda nessa condição, precisávamos de união. Precisávamos da Debate&Crítica.
A revista desempenhou o seu papel, com brilho e enorme repercussão. Não havia intelectuais brasileiros importantes que não a conhecessem, lessem e a recomendassem. Teve apenas seis números, após os quais foi fechada, pois a repressão cultural governamental resolveu exigir que todos os artigos passassem por censura prévia, algo impensável para um veículo de debate e crítica. Foi substituída por outra, chamada de Contexto, com os mesmos objetivos. Quando fundamos, muito mais tarde, Editora Contexto, quisemos homenagear essas trincheiras construídas contra o autoritarismo.
Jaime Pinsky é historiador e editor. Completou sua pós-graduação na USP, onde também obteve os títulos de doutor e livre-docente. Foi professor na Unesp, na própria USP e na Unicamp, onde foi efetivado como professor adjunto e professor titular. Participa de congressos, profere palestras e desenvolve cursos. Atuou nos EUA, no México, em Porto Rico, em Cuba, na França, em Israel, e nas principais instituições universitárias brasileiras, do Acre ao Rio Grande do Sul. Criou e dirigiu as revistas de Ciências Sociais, Debate & Crítica e Contexto. Escreve regularmente no Correio Braziliense e, eventualmente, em outros jornais e revistas.