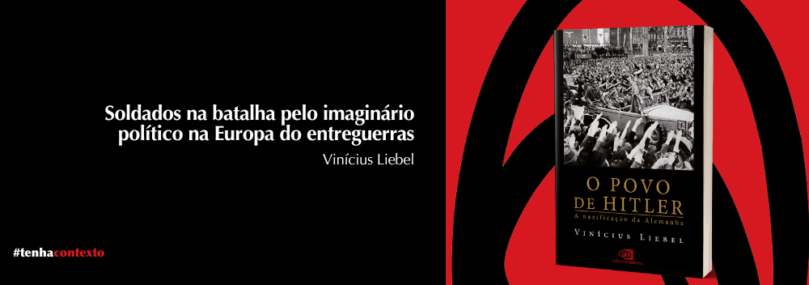Por Vinícius Liebel
Guerra, trincheiras e morte. O apocalipse diante dos olhos. Na Europa logo após a Grande Guerra, esperança e disputas ideológicas dividiam o imaginário europeu com a paranoia, as teorias da conspiração e os messianismos. A Alemanha é certamente o local onde isso irá se mostrar mais extremo, com a Revolução Alemã de 1918-1919 e a imagem de traição da esquerda que se propaga entre conservadores. O mito da facada pelas costas, gerado nas casernas do alto-comando alemão, aliado ao crescimento do antissemitismo, deu a uma boa parcela da população uma imagem explicativa para o fracasso dos exércitos alemães no front ocidental. As imagens das greves que se estenderam no país entre 1916 e 1918 e das batalhas campais que a revolução espalhou por todo o país ainda estavam muito vivas e conflitavam com a ferida sentimental da derrota alemã. Eram imagens fáceis de serem entendidas e foram largamente utilizadas como peças de propaganda pelos partidos e movimentos de direita.
Esses são apenas alguns dos elementos da memória que são disputados naqueles anos, apenas um fragmento do imaginário daquelas décadas. As crises (moral, econômica e política) favoreciam também o desenvolvimento de um antissemitismo virulento em alguns espaços, em especial na Áustria, na Alemanha e na França. A imagem do judeu como um intruso entre as nações e um aproveitador da crise, além de um agente bolchevique, ganha novos contornos, adentrando definitivamente no campo político europeu (podemos lembrar da Ideia de Szeged, grupo de milicianos húngaros que esmagou uma tentativa de governo socialista no país logo após a guerra, e da Legião do Arcanjo Miguel, na Romênia, agrupamento político-religioso de forte vertente antissemita). Partidos populares e populistas ganham espaço com discursos nacionalistas, xenófobos, antissemitas e revanchistas. O ódio ganha espaço na arena pública, e discursos de vingança e de destruição dos inimigos, aliados a sonhos de impérios e de dominação nacional e racial, embalam a ascensão de regimes autoritários, com a figura do soldado baseando as imaginações.
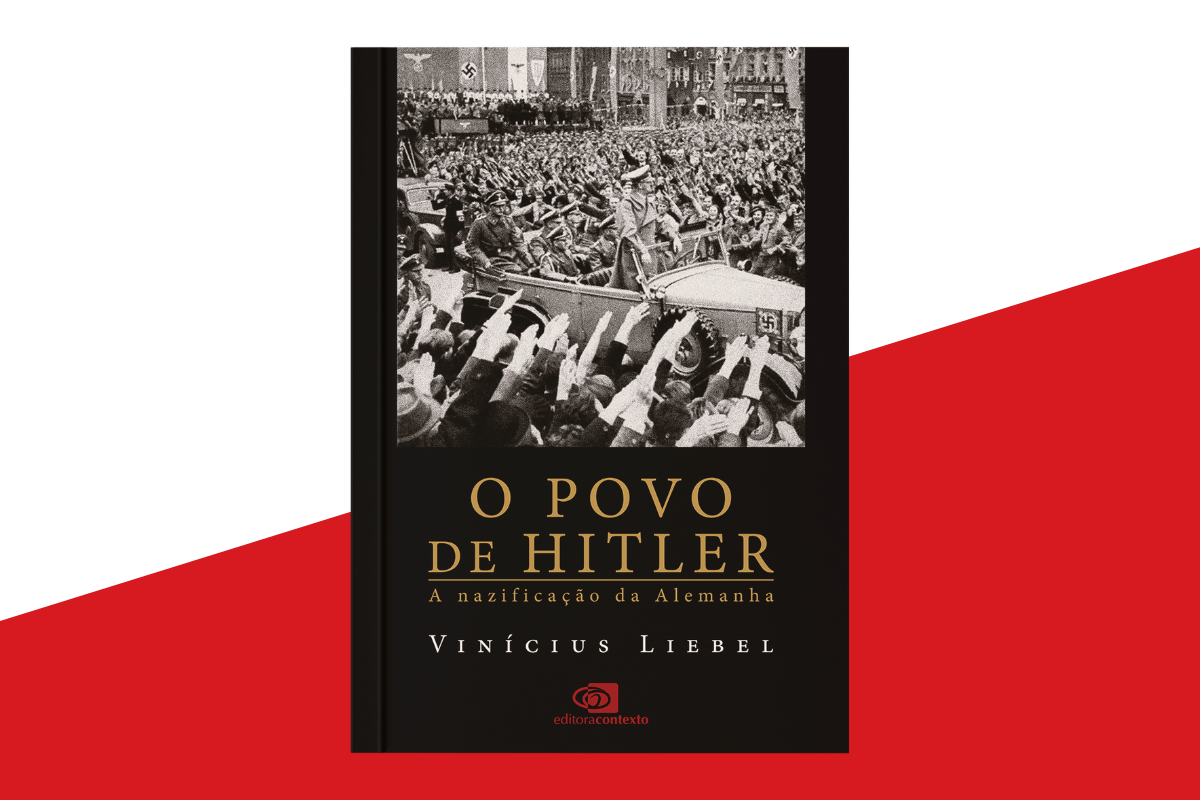
A guerra não estava apenas na base de um imaginário de ódio. Ela também era capaz de trazer lembranças acalentadoras, uma nostalgia que tomaria ex-combatentes e mesmo aqueles que não chegaram a participar do conflito, mas o idealizavam como um momento de glória. Nesse sentido, duas posições podem ser distinguidas ainda em relação às memórias da guerra: uma do orgulho e da nostalgia, outra do medo e da angústia. O orgulho e a nostalgia seriam a cola que juntaria ex-militares em grupos paramilitares e em associações de combate e defesa da nação, que serviriam de base e de ponta de lança para partidos e movimentos políticos em toda a Europa, dispostos a vencer a opinião pública pela força. Associações de ex-combatentes são fundadas em praticamente todos os países, da Hungria a Portugal, e visavam, por um lado, à conquista de direitos e apoio aos seus membros e, por outro, à manutenção de um espírito nacionalista e militarista. O soldado se torna a imagem projetada do herói, e o contexto de crises demandava que heróis dessem um passo adiante para lutar as guerras cotidianas, fosse a guerra econômica, política, racial ou aquela bélica que se projetava no futuro próximo.
Os ex-combatentes e os mortos do conflito de 1914 são ainda homenageados e utilizados como elemento heroificado da memória por regimes que buscam se sustentar democraticamente ou que buscam exaltar seu militarismo, no caso das autocracias. É o que acontece, por um lado, com as repúblicas francesa e portuguesa e a monarquia parlamentar inglesa, que se apoiam na imagem e nos monumentos erguidos em honra do soldado desconhecido para restabelecer uma fragmentada identidade coletiva. No caso de Portugal, em especial, a tentativa de manutenção da identidade do império vai além, com a incorporação de um soldado desconhecido de Portugal e outro da África em seu memorial erguido no Mosteiro da Batalha, uma política que serviu tanto à república quanto à ditadura salazarista. Na Itália e na Alemanha, a memória e as homenagens também serviram como exaltação dos exércitos nacionais. Na Alemanha, a tradição remonta ao período napoleônico, e a construção que serve hoje como um monumento ao soldado desconhecido de todas as guerras, a Neue Wache,foi erguida, originalmente, em homenagem às perdas da guerra de libertação napoleônica.
A guerra, entretanto, também resultava em medo e aflição. Não apenas no medo de populações entrarem em um novo conflito – o que era particularmente verdade na Inglaterra, onde essa ideia foi levada às últimas consequências na política diplomática de concessões ao expansionismo de Hitler – mas também no medo de uma nova questão social, advinda dos soldados mutilados e desempregados que a Primeira Guerra e as crises legaram aos países. Isso é retratado nas gravuras de Otto Dix, nas quais soldados invadem as ruas das cidades e rememoram a situação social da primeira metade do XIX, quando as ruas eram tomadas por pessoas em situação precária devido à incapacidade do mercado industrial de absorver essa mão de obra excedente. No caso dos ex-combatentes e mutilados, a situação era semelhante, não havendo como, em momentos de crise, incluir e resguardar essas pessoas.
Partidos e regimes fascistas prometiam dar a essa questão uma solução que as democracias pareciam incapazes de dar. De fato, uma vez no poder, os investimentos em infraestrutura e em subempregos que regimes como o nazista e o fascista fizeram pareciam dar a solução para essa questão. Sua valorização se tornou política de Estado, e era comum perceber na pavimentação de estradas e das ruas das cidades uma política de emprego e resgate dessas pessoas. Aliado a isso, políticas específicas, como incentivos à retirada das mulheres do campo de trabalho, à geração de filhos e à limitação de ocupações por família, entre outras, formataram um novo campo de trabalho que se prometia provisório, uma vez que a expansão territorial que as ditaduras proclamavam viria para dar o suporte ao seu desenvolvimento e acabar de vez com qualquer necessidade.
Mas a figura do soldado e a cultura militarista que o seguia estavam também na base de propostas políticas voltadas às autocracias. A obediência, a exaltação de uma cultura de guerra, o princípio de liderança absoluta e de decisões sumárias e diretas que prometiam livrar as populações europeias de todas as crises eram parte da retórica autoritária que insuflava diversos partidos pelo continente. Contra a morosidade que regimes democráticos e parlamentares demonstravam naquele momento, prometiam uma saída fácil e populista: o líder decidirá o que fazer e tirará nosso país da crise com suas habilidades extraordinárias. Eram posicionamentos que afrontavam diretamente os princípios democráticos e da pluralidade. Eram declarações que reforçavam um regime emocional pautado pelo medo e pelo ódio e dele se aproveitavam. Eram medidas e promessas que, por princípio, democracias não poderiam fazer. Foram também, por fim, princípios que levaram o continente europeu de volta às trincheiras, para sua guerra mais sangrenta.
Vinícius Liebel é historiador, doutor em Ciência Política pela Universidade Livre de Berlim (FU-Berlin). Professor de História Contemporânea na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), realiza pesquisas sobre a história contemporânea da Europa e as sociedades europeias, em especial a alemã, com foco no nazismo, no autoritarismo e na cultura. Na Alemanha, publicou Politische Karikaturen und die Grenzen des Humors und der Gewalt, sobre as charges do jornal antissemita Der Stürmer. No Brasil, é autor de Os alemães e O povo de Hitler: a nazificação da Alemanha (Editora Contexto).