Javier Milei, presidente da Argentina, optou por reviver termos antiquados e pejorativos, um passo atrás no avanço civilizatório
Cresci em uma época em que a presença de pessoas com deficiência intelectual era rara em ambientes sociais, quase invisível. Meu primeiro – e por muito tempo único – contato foi com Mauro, irmão de uma grande amiga do ensino médio, que tinha síndrome de Down (na época, ainda usávamos o termo “mongolóide”, felizmente abandonado). Lembro, com constrangimento, do desconforto que sentia em sua presença. A falta de convivência afetava minha compreensão, empatia e percepção sobre a diversidade humana. A segregação era a regra.
Não era incomum que essas pessoas fossem trancadas em quartos ou amarradas a camas, sendo mantidas fora do convívio social. Felizmente, a geração dos meus filhos vive uma realidade diferente, onde a inclusão e o respeito são valores centrais – ainda que desafios permaneçam.
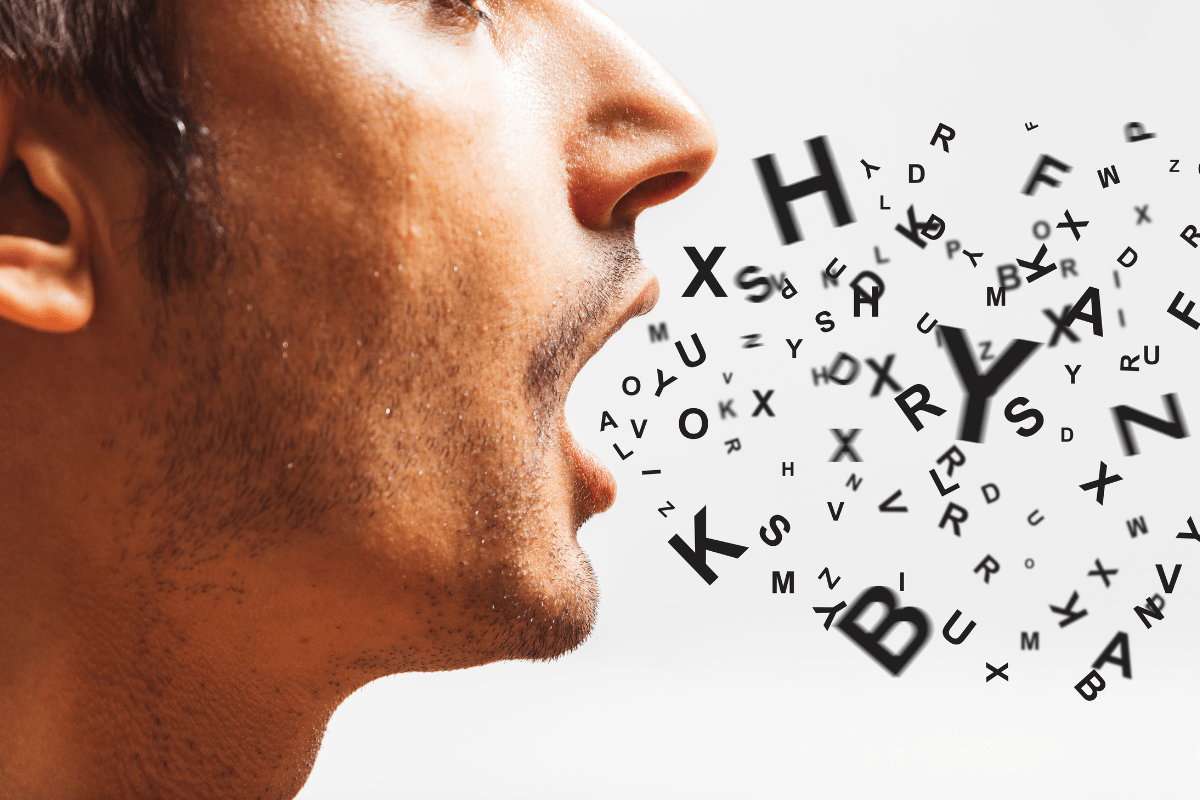
Quando Javier Milei, presidente da Argentina, optou por reviver termos antiquados e pejorativos para se referir a pessoas com deficiência intelectual – em meio a uma iniciativa de seu governo para revisar cerca de um milhão de beneficiários de assistência por invalidez –, sua decisão não foi apenas uma provocação política. Foi um passo atrás no avanço civilizatório. As palavras têm peso, e a forma como nomeamos algo influencia diretamente a maneira como a sociedade o percebe. Basta lembrar como “viciado” carrega um julgamento moral, enquanto “dependente químico” reconhece uma condição de saúde – e essa mudança redefiniu tratamentos e políticas.
O termo mental retardation (retardo mental) já foi uma designação técnica, mas caiu em desuso porque passou a ser usada de forma depreciativa. Com o tempo, passou a carregar um peso social negativo, servindo mais como insulto do que como descrição objetiva. Assim, a comunidade científica e os movimentos de direitos das pessoas com deficiência começaram a adotar termos mais precisos e respeitosos, como deficiência intelectual (intellectual disability) ou transtorno do desenvolvimento intelectual.
A American Psychiatric Association oficializou, em 2013, a substituição do termo “retardo mental” por “deficiência intelectual” no DSM-5, um passo seguido pela Organização Mundial da Saúde na CID-11, ambos os principais manuais de referência para profissionais da saúde em todo o mundo. Nos Estados Unidos, essa mudança já havia sido antecipada pela Rosa’s Law, sancionada pelo presidente Barack Obama em 2010, que eliminou o termo mental retardation de documentos federais.
Essa decisão não foi mero formalismo, mas o reconhecimento de que a linguagem molda percepções e realidades. No Brasil, o movimento de pessoas com deficiência conquistou vitórias importantes, como a criação da Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, que reforça o compromisso do país com a inclusão e a dignidade dessas pessoas.
A classificação de severidade da deficiência intelectual varia de “leve” a “profunda”, considerando desafios na interação social, no desempenho acadêmico, na vida diária e na autonomia, destacando as adaptações necessárias para a inclusão plena dessas pessoas na sociedade. Difícil não perceber o abismo entre essa abordagem e os termos depreciativos como “idiota”, “imbecil” e “retardado mental” utilizados na diretiva do governo Milei, não?
Essa mudança não é um capricho do “politicamente correto”. A forma como nos referimos a grupos sociais molda diretamente a maneira como a sociedade os vê. Quando, no passado, expressões como “velhote” ou “senil” eram usadas de forma depreciativa para se referir aos mais velhos, elas não apenas diminuíam sua dignidade, mas também reforçavam um estigma que os afastava da sociedade.
Esse tipo de linguagem perpetua a marginalização, fazendo com que, muitas vezes, os idosos sejam tratados como se fossem invisíveis ou incapazes. E, convenhamos, todos, se tivermos sorte, um dia seremos idosos, não? O mesmo ocorre com as pessoas com deficiência intelectual: quando termos pejorativos são usados, eles não apenas isolam, mas também restringem oportunidades, reforçam a discriminação e afetam profundamente a autoestima e o bem-estar dessas pessoas.
Quando líderes como Milei insistem em usar terminologias ultrapassadas e, sim, ofensivas, não estão defendendo a liberdade de expressão. Estão reforçando um passado em que essas pessoas eram tratadas como cidadãos de segunda classe. Podemos discordar em muitas questões políticas, mas há um consenso básico que uma sociedade civilizada deveria manter: não há progresso em resgatar insultos do passado. Essas pessoas são nossos irmãos, filhos, amigos, nós mesmos – não seres abstratos.
Mauro, por exemplo, passou dos 50 anos e, cercado de amor e apoio, divide seu tempo entre as casas de seus quatro irmãos. Mantém uma rotina ativa, tem amigos e é muito querido pelos sobrinhos. Nada mal para quem, ao nascer, recebeu uma expectativa de vida de apenas três meses.
Sob pressão, o governo Milei voltou atrás no uso da norma com termos ofensivos. Palavras mudam, e com razão. Quando escolhemos usá-las com responsabilidade, estamos dizendo algo sobre quem somos—e sobre quem queremos ser.
Fonte: Revista Veja
Ilana Pinsky é psicóloga clínica e pesquisadora ligada à Fiocruz. É autora de Saúde Emocional: Como Não Pirar em Tempos Instáveis (Contexto) e foi consultora da OMS e professora da Unifesp e da Universidade Colúmbia (EUA).

