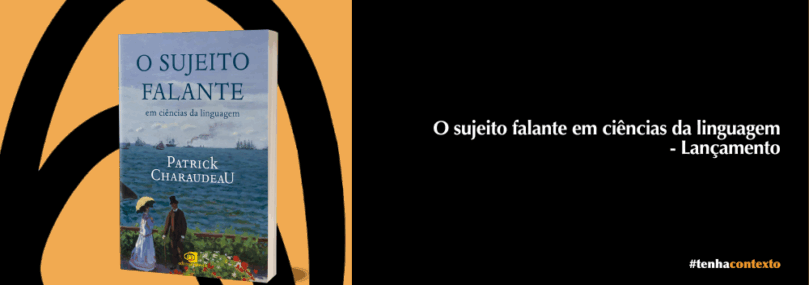Em 1983, a disciplina denominada Linguística abria-se a várias correntes de pensamento. Reuniram-se as bases da Linguística e criaram-se a Associação das Ciências da Linguagem (ASL) e a Associação de Linguistas do Ensino Superior (Ales). Ali se confrontavam a tradição dos estudos filológicos, gramaticais e históricos (Meillet), a análise estrutural da língua definida por Ferdinand de Saussure e os seus diferentes prolongamentos, fonológico e funcional (Jakobson, Troubetzkoy, Martinet), semântico (Guillaume, Pottier, Culioli, Martin, Lyons), gerativo (Chomsky), sob a designação de “Linguística Geral”. Depois, sob a influência dos escritos de Émile Benveniste, surge a teoria da enunciação e, ao mesmo tempo, na tradição da filosofia analítica da linguagem, a análise pragmática que dá origem à teoria dos atos de fala (Austin, Searle, Grice, Ducrot na França). A disciplina, então denominada uma “ciência da linguagem”, estava aberta a outras influências de outras disciplinas interessadas nos aspectos psicológicos e sociais da linguagem: a Sociologia Antropológica, Etnográfica e Etnometodológica (Goffman, Dell Hymes, Gumperz, Garfinkel); diversas Sociolinguísticas (Bernstein, Halliday, na Grã-Bretanha; Fishman, Labov nos Estados Unidos); a Psicologia Social (Moscovici, Ghiglione, Trognon, Chabrol, Marc-Lypianski e Picard, na França, Roulet, na Suíça) descrevendo as interações linguageiras e as dinâmicas das relações psicossociais. Esta ciência da linguagem tornou-se então um todo composto, incluindo a Linguística Histórica, a Linguística Comparada, a Linguística Teórica, a Sociolinguística, a Etnolinguística, a Psicolinguística, a Linguística Discursiva, a Linguística Pragmática, a Linguística Aplicada, entre outras.
Foi nesta época que, após a redação da minha tese de doutoramento, escrevi Linguagem e discurso, o primeiro livro em que, influenciado por todas essas correntes, lancei as bases do que viriam a ser as minhas preocupações em Análise do Discurso, centradas em torno do sentido e da significação, nos seus componentes externos, psicológico e social, com os conceitos de contrato de comunicação, estratégia discursiva e imaginário sociodiscursivo, num espírito de interdisciplinaridade, uma vez que a Análise do Discurso não é a única a tratar dessas questões. Sendo assim, não é jamais original.
Refletir sobre e com a linguagem é, de fato, colocar-se na filiação de todos os que trabalharam sobre ela no passado, e tudo o que estamos a fazer, à luz de uma época contemporânea; é retomar as noções, os conceitos e as formas de raciocínio daqueles e daquelas que nos precederam. Na história de uma disciplina, nunca ninguém morre. É disso que este livro dá testemunho.
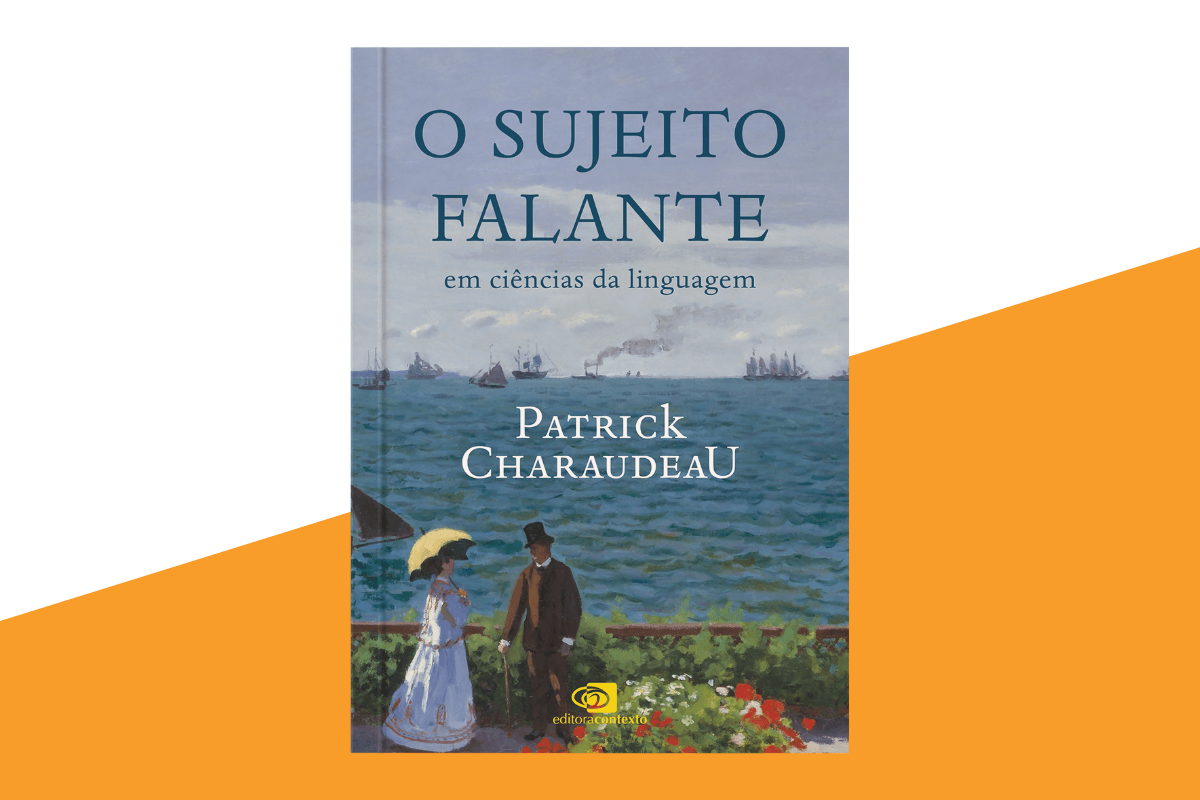
Há um outro aspecto que o caracteriza. É aquilo a que poderíamos chamar, segundo a fórmula consagrada em política, o “direito de fazer um inventário”. Só que aqui se aplica a si próprio, no domínio científico. É uma tarefa terrível e um grande risco querer confrontar o nosso próprio itinerário para medir a sua coerência. Porque a investigação segue por estradas secundárias onde nos perdemos, quero dizer, onde somos levados a recomeçar, corrigir e até mesmo contradizer. Por isso, pareceu-me que, depois de tantos anos trabalhando sobre a linguagem, era hora de arriscar e corrigir as coisas. Isto implica voltar a escritos anteriores, ousar citar-se para ser mais preciso, e mesmo retificar-se. Peço desculpa aos leitores que por acaso tenham lido estes escritos, mas, por favor, tenham paciência e não me censurem, tanto mais que não os lerão aqui exatamente da mesma maneira e os encontrarão inseridos num conjunto que lhes dá uma certa coerência. A reflexão científica avança numa redundância progressiva através de uma intertextualidade que põe em diálogo os escritos de uns e de outros com os seus próprios. O Eu científico é um Nós. Há, no entanto, outras razões mais profundas para este empreendimento.
A LÍNGUA
Em primeiro lugar, a paixão pela língua. A língua, essa “coisa” que, desde nosso nascimento, está presente em nossa vida, justificando-a, questionando-a e, por vezes, amaldiçoando-a. A língua em todos os seus componentes: a fala e a boca, a escrita e a mão. A oralidade e as vibrações do aparelho fonador; a escrita e os vacilos da inscrição dos signos. Mas também a linguagem, objeto de tantos mal-entendidos, muitas vezes confundida com a língua, que, no senso comum, é vista ora como uma manifestação frívola do homem nas suas falsas promessas (“blá-blá-blá”), ora como um meio de ocultar a verdade (mentira, engano e ardil), ora como ineficaz perante os atos (“As palavras voam”). Não conhecemos o mundo, apenas sabemos o que a linguagem diz sobre ele. O mundo não significa em si mesmo; significa apenas através da linguagem.
Estas fórmulas parecerão excessivas, levantando-se a questão do que significa “conhecer” e “significar”. Perplexidades que se refletem nos debates filosóficos entre “realistas” e “nominalistas”, que se poderiam resumir, de forma demasiado esquemática, dizendo que os primeiros postulam que o mundo é pensável para o homem através de categorias universais transcendentes (Platão), enquanto os segundos postulam que a inteligibilidade do mundo só pode ser apreendida nomeando-o, através de categorias construídas (Aristóteles). Parece, segundo alguns filósofos contemporâneos, que a posição nominalista dominou o período moderno desde Hume e a Filosofia Analítica (Wittgenstein), mesmo que certas correntes contemporâneas como o “novo realismo” aspirem a mudar o contexto.
No entanto, podemos adiantar que, enquanto temos em conta esses debates, que analisaremos na primeira parte deste livro, existe um outro ponto de vista, o da reflexão semiológica e linguística, que defende que o mundo adquire significado através de um processo de transformação que o leva de um estado fora de significação para um estado de significação: o signo não é uma cópia da realidade, o signo faz significar a realidade. E esta transformação dá-se sob a responsabilidade de um sujeito que tem a intenção de dar sentido ao mundo, através da articulação de sistemas de significantes e significados. A significação é sempre o resultado de uma construção. Assim, a língua não é apenas um instrumento ou uma ferramenta, como o martelo para o prego ou a língua para a realidade. A linguagem faz parte dela, está a serviço do ato de linguagem, que é a possibilidade da relação entre o ser e o mundo. É preciso, portanto, tentar dar conta desse processo de construção de sentido, porque é verdade que se a linguagem nos permite representar o mundo, embalar-nos em verdades, ela funciona também como uma ilusão, transportando-nos, para o bem ou para o mal, em considerações fundadoras da nossa condição humana. É essa a minha principal motivação, e é para descrever este processo de construção de sentido que este livro se propõe na sua segunda parte.
Mas isso não é tudo, porque a linguagem é o que permite aos seres humanos relacionarem-se entre si, oporem-se, influenciarem-se, criarem laços de solidariedade, formarem um coletivo, mas também singularizarem-se. Todo o resto decorre disso: a organização social, as instituições, os imaginários sociais e, no meio, o sujeito, que procura o seu caminho e a sua voz. Chego assim à minha segunda razão: o sujeito.
O SUJEITO
O sujeito em geral, e o sujeito falante em particular. Porque dizer que a linguagem está no centro de todas as coisas humanas é dizer que o sujeito falante é o seu cerne, o seu grande organizador. Tive de voltar a esta noção, que sempre esteve no centro da minha investigação sobre os fenômenos linguageiros. E, nomeadamente, para definir a sua existência como indivíduo, ou seja, como sujeito que se individua face às determinações sociais. Norbert Elias, em “Problemas da autoconsciência e da imagem do homem”, considera que “faltam-nos […] os padrões de pensamento e, sobretudo, a visão de conjunto que nos permitiriam conciliar melhor as nossas concepções do homem como indivíduo e como entidade social”. E continua sua reflexão:
Aparentemente, temos dificuldade em explicar a nós próprios como é possível que cada indivíduo seja uma pessoa única, diferente de todas as outras, um ser que sente de uma certa maneira o que mais ninguém sente, que vive o que mais ninguém vive, que faz o que mais ninguém faz, um ser para si próprio e, ao mesmo tempo, um ser para os outros e entre os outros, com quem forma sociedades com estruturas mutáveis, cuja história, tal como se desenrola ao longo dos séculos, não foi desejada, ordenada ou mesmo intencionalmente provocada por nenhum dos indivíduos que as compõem, e ainda menos por todos esses indivíduos em conjunto, e sem os quais o indivíduo enquanto criança não poderia viver ou aprender a falar, pensar, amar e comportar-se como um ser humano.
Um sujeito singular e, ao mesmo tempo, um sujeito para os outros. No entanto, este sujeito tende, sem surpresa, a desaparecer nas ciências sociais, em favor de um sujeito sobre determinado por todo o tipo de condicionamentos sociais. Pierre Nora observa que “a história científica, durante mais de um século, levou os historiadores a se apagarem atrás do sujeito. Se o sujeito fosse ele mesmo, onde situar o vetor entre a apreensão de si mesmo pelo social e a hipersubjetividade intimista?”. Neste apagamento, o sujeito seria governado pelas forças da sociedade, tornando-se um ator social, uma entidade abstrata que não pertence a si mesma. Consequentemente, o sujeito falante não seria uma voz de si mesmo, mas uma voz da sociedade, uma espécie de “entidade espiritual” que fala a partir de um outro lugar. Não seria o sujeito a falar, mas a sociedade a falar através do sujeito; não seria o sujeito a construir ideologias, mas as ideologias a sobre determinarem o sujeito; por vezes nem sequer seria o sujeito a fazer história, mas a história a fazer o sujeito. Em outras palavras, se há sujeito, ele está numa nebulosa preexistente a ele, como se devesse sua razão de ser a sistemas, estruturas e formas de pensamento prontas (ideologias). Em outras palavras, trata-se de uma ausência de sujeito, sem alteridade nem identidade própria.
Não se trata, porém, de defender a ideia de um sujeito-indivíduo, um ser para si mesmo, um “penso, logo existo”, isolado do mundo e voltado apenas para si. Trata-se de dar existência a um sujeito que, como assinala Norbert Elias, não pode existir sem o outro ou sem o que o mundo e a sociedade lhe legam. O indivíduo é um complexo de partes em interação umas com as outras. E é nesta relação entre ser para si, ser com os outros e ser com o mundo que o sujeito falante se esforça por existir na atividade de linguagem, usando e apropriando-se da língua num ato de enunciação que, queiramos ou não, é seu. Um sujeito que está no centro da sociedade, que a constrói, que é o senhor da representação que faz do mundo e de sua significação.
É este o objetivo das partes três e quatro deste livro. Mostrar que o sujeito falante não desaparece no deserto das determinações sociais, mas, pelo contrário, que é o lugar onde se emaranha o singular, que volta à intencionalidade do indivíduo, e o coletivo, que volta à sociedade; uma história pessoal e uma história coletiva; o subjetivo e o objetivo, o íntimo e os determinismos sociais. Um sujeito que se debate com a sua própria identidade (terceira parte), constrangido pelas próprias condições da situação comunicativa em que fala, mas com alguma margem de manobra para se singularizar (terceira parte), no meio dos imaginários sociais que constrói e dos quais é ao mesmo tempo dependente (quarta parte). O célebre “regresso do sujeito” anunciado por Alain Touraine deve ser entendido não como um regresso à psicologização do sujeito, mas como um operador no centro dos fenômenos sociais, construtor de normas sociais, utilizando estratégias e processos diversos de regulação e de influência, e, portanto, um sujeito responsável. Pelo menos é assim que o compreendo – ou como gostaria de o compreender.
ANÁLISE DO DISCURSO
Isso me leva à terceira razão: o lugar das ciências da linguagem no seio das ciências sociais, que, devemos recordar, são também ciências humanas, porque reduzir o título a ciências sociais é prescindir do sujeito – refiro-me ao sujeito na sua “pessoa” – e, por extensão, do sujeito falante.
A Linguística – que se tornou, com razão, ciências da linguagem – é uma disciplina das ciências humanas e sociais, tal como a Sociologia, a Psicologia, a Antropologia e a História. É certo que é difícil determinar os critérios de definição de uma disciplina; uns a definem pelo seu “objeto”, outros pelo seu “objetivo de análise”, mas pode-se dizer que toda disciplina se baseia num certo número de pressupostos teóricos, de conceitos e de procedimentos analíticos. Além disso, uma mesma disciplina é constituída por um certo número de subdisciplinas7 que, sob a égide dos dados epistemológicos da disciplina, especificam o seu próprio objeto e campo de análise: a Linguística da Língua, ela própria composta (Fonologia, Morfologia, Sintaxe, Semântica); a Linguística Sociológica e a Sociolinguística; a Linguística Antropológica e a Etnolinguística; a Linguística do Discurso e a Linguística do Texto. Por fim, cada uma dessas subdisciplinas é atravessada por várias correntes: correntes estruturalistas ou gerativistas, para a Linguística da Língua; corrente pragmática, etnográfica, semiótica e interacionista para o estudo dos fatos do discurso. E, dentro de uma mesma corrente, como a da Análise do Discurso, existem subcorrentes de análise: marxista, crítica, emiolinguística etc. Há, no entanto, um certo número de proposições definidoras comuns a essas diferentes correntes, ainda que com designações diversas, em torno de noções como “ato de linguagem”, “ato de enunciação”, “intertextualidade”, “interdiscursividade” e “dialogismo”. Há duas coisas que são importantes para mim sobre esta disciplina, as ciências da linguagem: uma é o quão pouco outras disciplinas das humanidades e das ciências sociais pensam sobre ela; a outra é como situar o meu próprio ponto de vista analítico.

Trabalhando em centros de investigação pluridisciplinares, pude constatar que, exceto os pesquisadores, sociólogos, psicólogos, historiadores, os pesquisadores das ciências da informação e das ciências políticas que se interessam pela linguagem, essas disciplinas ignoram e descartam as ciências da linguagem. Por vezes, limitam-nas à análise das línguas, independentemente do seu condicionamento social; por vezes, assimilam-nas ao estudo da retórica, considerando que se trata de uma questão de estilo ou de um disfarce que encobre os fatos sociais. Confundem frequentemente análise de conteúdo e análise do discurso, e os estudos quantitativos ou qualitativos do discurso nem sempre são considerados eficazes para explicar as realidades sociais, como comentou um investigador de ciências políticas: “No fim das contas, o que conta em política são as ações. A linguagem é fumaça e espelhos”; como se as ações não fossem linguagem e a fumaça e os espelhos não fossem o que forma a opinião pública. Pareceu-me necessário mostrar, num espírito de interdisciplinaridade – de que falarei na introdução à primeira parte – como, e de que forma, a Análise do Discurso – que, depois de muitos desvios, se tornou o meu campo de estudo – contribui, atravessando várias correntes teóricas, com a sua quota de reflexões e resultados para as ciências humanas e sociais. É este o objetivo da primeira parte, que passa em revista a noção de sujeito na Filosofia, na Sociologia e na Linguística.
Situar o seu próprio ponto de vista não significa que ele seja mais original do que os outros, uma vez que as várias correntes teóricas se influenciam mutuamente e permeiam o sujeito analisante. Também não significa que estamos tentando estabelecer-nos como um modelo, o que seria muito pretensioso, porque um modelo é, em princípio, estruturalmente completo e fechado em si mesmo, e qualquer ponto de vista analítico não é mais do que um conjunto de pressupostos teóricos, de conceitos e metodologias suscetíveis de serem discutidos. Não existe uma ciência pessoal. Existem, no entanto, caminhos que, com as suas múltiplas interseções ligadas à própria história intelectual do investigador, são pessoais.
Dito de outra forma, o eu que escreve neste livro – e que se exprime sobretudo em nós – é um eu atravessado por múltiplas influências, um eu que tenta uma recomposição integrativa e atualizada de alguns dos seus escritos: integrativa porque os retoma e articula numa problemática de conjunto; atualizada porque, com a distância do tempo, e a reflexão a posteriori, acrescenta novos elementos, argumentos e exemplos, e por vezes até retifica certas proposições. Por isso, não será surpreendente encontrar parágrafos, passagens e extratos dos seus outros escritos (artigos ou livros), porque se trata de colocá-los todos em perspectiva.
Patrick Charaudeau é professor emérito da Universidade de Paris-Nord (Paris XIII) e fundador do Centre d’Analyse du Discours (CAD) da mesma universidade. Criador de uma teoria de análise do discurso, denominada Semiolinguística, é autor de diversas obras: A conquista da opinião pública, Discurso das mídias, Discurso e desigualdade social, Discurso político, Dicionário de análise do discurso, Linguagem e discurso, A manipulação da verdade e O sujeito falante em ciências da linguagem, todos publicados pela Contexto. Na França, é autor de vários livros, capítulos de livros e revistas, dedicados aos estudos discursivos.