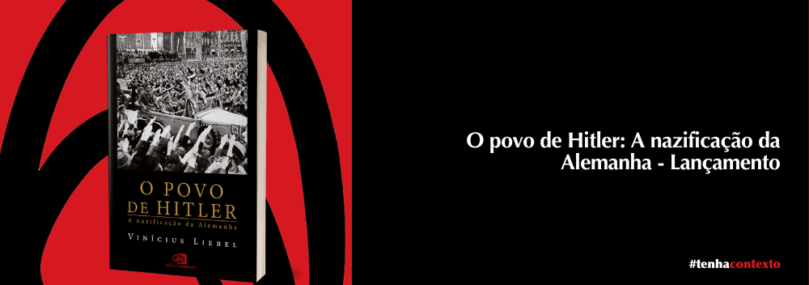Afinal, o nazismo não é só um dos temas mais estudados no mundo pelos historiadores, mas é também um fenômeno cultural de massas, gerando filmes, seriados, documentários e livros de ficção. Nem sempre a abundância de pesquisas e de materiais disponíveis resulta em produtos com respaldo historiográfico, e não é incomum, ao assistirmos a um filme com uma narrativa envolvendo nazismo, pensarmos: mas será que isso ocorreu mesmo? Será que isso seria possível?
Essa hiperexposição faz com que nos sintamos informados sobre o tema, com dados suficientes para compreender o fenômeno. De certa forma, a impressão é de que o nazismo não foi, não está no passado, mas é permanente. Sua ascensão é contada todos os dias, seus crimes denunciados, seus líderes estudados.
Os 12 anos de duração do regime nazista se mantêm presentes, de múltiplas formas, em nossa cultura popular globalizada. Séries documentais anunciam o “olhar definitivo” sobre as mais diferentes temáticas: os ajudantes de Hitler, os tanques de guerra nazistas, os campos de extermínio, as grandes batalhas da Segunda Guerra.
Séries ficcionais buscam histórias sobre refugiados, opositores, artistas que viveram durante o Terceiro Reich, com mensagens edificantes e de denúncia. Os nazistas continuam presentes e, de certa forma, ainda são populares.
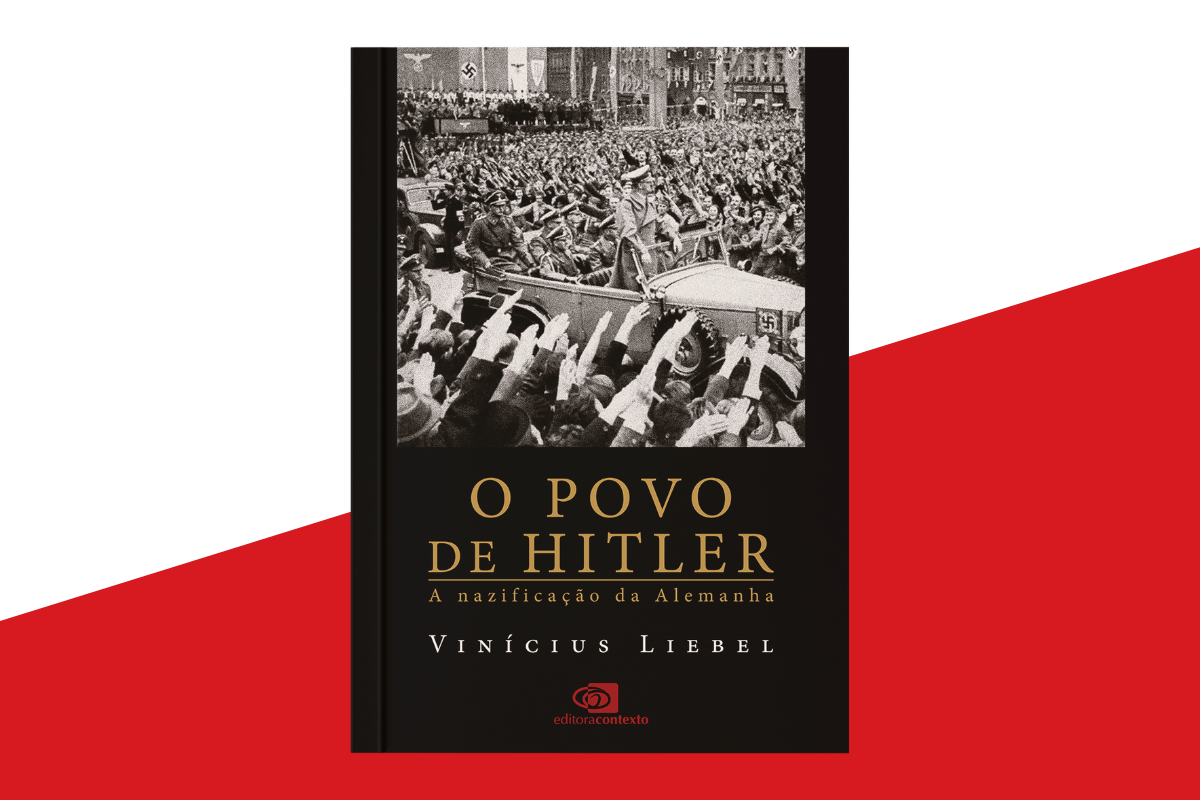
Toda essa exibição visual do nazismo não garante, contudo, conhecimento sobre o tema. Tratamos aqui de um assunto que gera curiosidade, medo, espanto e que é visto como uma espécie de pináculo da violência. Nesse cenário, temos dois caminhos que se afastam do conhecimento: uma vulgarização do nazismo, que o leva a um status de senso comum, algo que todos sabem em geral do que se trata, o que, pode-se dizer, normaliza sua percepção, e uma mitificação do nazismo, que o eleva a uma posição simbólica de ultraviolência que, por um lado, indica uma impossibilidade de compreensão do fenômeno e, por outro, torna-o uma representação automática do antagonismo, uma alegoria da revolta cuja estética indica, ao primeiro olhar, uma refutação (violenta) da sociedade. Portar uma suástica no braço se torna uma declaração de contestação total dos valores, das dinâmicas ou das relações sociais, e aquele que veste o símbolo nazista pode nem sequer conhecer ou entender o nazismo, mas busca, através dele e em sua ignorância, expressar uma revolta.
Nos últimos anos ainda temos visto outro fenômeno, ligado às redes sociais e associado de forma inerente às gerações Y (nascidos na década de 1990) e Z (nascidos na década de 2000), que transforma o nazismo e seus líderes em elementos de humor cotidiano, na produção de “memes” ou de “figurinhas” de WhatsApp. Nesse processo, a história do nazismo passa a ser objeto de gracejos, as violências e ideias ligadas à sua ideologia são abrandadas e sua presença (ideológica, estética) é normalizada. Esse fenômeno ainda vem acompanhado de produções cinematográficas (como a comédia alemã Minha quase verdadeira História, de 2007) e literárias (como o livro de Timur Vermes, Ele está de volta, de 2014), que têm na sátira por vezes escrachada de Hitler e seus asseclas suas bases narrativas. O que assistimos então é um distanciamento do peso da memória e da gravidade da história em favor de um uso acrítico e humorístico das imagens nazistas, suavizando, por fim, o senso comum sobre o nazismo.
É aqui que se evidencia a necessidade constante de se falar (e se escrever) sobre o nazismo. Em primeiro lugar, é preciso conectar toda essa visualidade – que ganha ares de abstração em muitos momentos – ao conhecimento histórico e historiográfico. Perceber que representações tão díspares quanto o carregado drama A Lista de Schindler e a fábula cômica A Vida é Bela se baseiam em um mesmo evento histórico, e que nenhuma delas é um documento totalmente fiel àquele contexto. Não apenas saber nomear seus principais líderes, ou traduzir em datas as etapas de sua ascensão ao poder na Alemanha, mas entender o que defendiam os nazistas, sobre que bases sua ideologia foi construída. Mais do que isso, é necessário compreender o nazismo como uma experiência histórica, analisar criticamente as vivências que se mostravam possíveis naquele contexto, as culturas que conviviam ou que se adaptaram ao regime.
Um processo que busque não só o conhecimento, mas também a compreensão crítica daquele contexto envolve uma necessária mudança de olhar – ou, melhor dizendo, uma complementação do olhar. A experiência do nazismo não é acessada apenas pelas estruturas do Estado totalitário que foi organizado pela letra fria das leis e da ideologia que os nazistas propagaram, mas também pelas vivências cotidianas, pelas emoções, pelas ações do dia a dia. Ou seja, pelo que podia ser considerado “normal” naquela conjuntura.
Ao atentarmos para esses aspectos, abrimos o leque de elementos observáveis e nos deparamos com experiências plurais. Se é verdade que o fanatismo esteve ligado ao movimento nazista desde seus primórdios, produzindo seguidores fervorosos que tinham na violência seu modo primeiro de ação no mundo, houve também resistências, violentas e não violentas, de grupos e indivíduos que se opuseram à ascensão dos nazistas ao poder. Mas mais do que isso, houve uma grande parcela de alemães que conviveram com os nazistas sem vivenciarem confrontos ou sofrerem perseguições, que conseguiram manter certa normalidade em seu cotidiano ou que se adaptaram rapidamente à nova realidade. Sendo uma ditadura racial, é claro que essa possível “normalidade” estava reservada apenas àqueles que se enquadravam na definição de “arianos” produzida pelos nazistas, mas dentro desse grupo, pelo menos até a guerra chegar em território alemão, a vida podia se mostrar bastante trivial. Essa dimensão da normalidade cotidiana receberá atenção neste livro.
É importante salientar sempre, entretanto, que abordar e evidenciar essa dimensão da experiência nazista não significa negar ou diminuir a brutalidade de sua ideologia, de suas instituições e de suas ações. Com grande frequência historiadores que lidam com ditaduras e regimes autoritários ou totalitários e que focam suas pesquisas nesses aspectos cotidianos acabam por minimizar, de forma intencional ou não, a violência empregada por esses regimes contra suas populações. Isso é um erro. Não há como contornar a violência da estrutura ou a brutalidade das ações e da ideologia nazistas. Focar as atenções no cotidiano revela dinâmicas muito próprias, as emoções vivenciadas no dia a dia, as trocas intersubjetivas para além das estruturas ou mesmo no interior delas, as relações dos alemães para com seus semelhantes, com as ideias que circulavam e com aqueles que se encontravam no controle daquele regime. Mas justamente por abrir espaço para esses elementos é que, por vezes, a violência envolvida parece relativizada, uma vez que ela precisa ser assimilada na percepção de normalidade. Em suma: as dinâmicas violentas são incorporadas no cotidiano e se tornam “o novo normal”, possibilitando que indivíduos e grupos sociais coexistam com os nazistas, aceitando o novo contexto e vivendo suas vidas “da melhor forma possível”. Essa realidade atinge pessoas diferentes de formas variadas, e é justamente na necessidade ou não de se adaptar, bem como nos variados graus de sucesso nessa adaptação, que encontramos a experiência mais essencial dos cidadãos alemães durante o regime nazista.
Crianças, mulheres, judeus, homossexuais, jovens, trabalhadores, militares, idosos; cada categoria social pode ser observada em suas dinâmicas próprias durante todo o período do Terceiro Reich e encontraremos diferentes vivências naqueles anos. Tal variedade gera também memórias diferentes sobre o regime, sobre o envolvimento de cada um com seus crimes e com a violência que lhe era central. Ainda que grande parte da população alemã não participasse diretamente dos atos criminosos e violentos dos nazistas, nas ações cotidianas podemos encontrar negociações constantes entre os indivíduos e o regime. Isso faz com que, por vezes, um único indivíduo pudesse demonstrar apoio irrestrito à ditadura em um ambiente, mas, em outro, descontentamento ou mesmo alguma resistência. Essa variação de atitudes e de posicionamentos podia ocorrer inclusive em um mesmo dia de um indivíduo, a depender do ambiente em que ele se encontrava, das pessoas com quem conversava ou do grau de repressão e vigilância que acreditava estar sendo alvo na ocasião. Em suma, são as ambivalências e adaptações desenvolvidas pelos indivíduos em sua relação com as estruturas repressoras da ditadura. Para compreendermos essa disposição é necessário que tomemos a dominação como uma prática social na qual diferentes elementos, atores e contextos determinam variáveis que podem mudar as relações de poder em cada momento.

Este livro não tratará da Segunda Guerra Mundial, ou mesmo da relação dos nazistas com as populações dos territórios ocupados. O que nos interessa aqui são as respostas que o regime obteve do próprio povo alemão, ou seja, a forma como a população alemã se relacionou e, em certo sentido, se ajustou à brutal violência do regime nazista. A repressão total e absoluta de toda a população é impossível, a doutrinação completa também. Mas o apoio, ou, ao menos, o consentimento da maioria da população a um regime autoritário, é uma possibilidade mais realista. Tal percepção complexifica a busca por culpados nesses sistemas, uma vez que nem todos participaram da repressão, da perseguição e dos crimes cometidos no regime, mas toda a sociedade pode ser implicada e responsabilizada por sua continuidade. Nas discussões historiográficas sobre o regime nazista, são várias as vozes que ponderam sobre a perda da individualidade e da capacidade de reflexão que o sistema produz, sobre a massificação da sociedade e sobre o farol ideológico que guiava a população. Menos constantes são aquelas que apontam para as ações cotidianas e para a responsabilidade que todos aqueles indivíduos tiveram pela manutenção do regime e de seus crimes. Todas essas abordagens, entretanto, são importantes, e o olhar do historiador deve se voltar para o mosaico múltiplo e intrincado que elas acabam por formar. O nazismo se mostra, portanto, muito mais complexo. Este livro busca olhar criticamente para tudo o que formou a vida nazificada, das estruturas de repressão e ideológicas às dinâmicas cotidianas entre os alemães. Observa a experiência nazista em seu conjunto, do aparato do regime às experiências ordinárias, para chegar a uma apreensão mais global do fenômeno e responder, com mais fundamentação, à pergunta que continua a pairar: como foi possível?
Vinícius Liebel é historiador, doutor em Ciência Política pela Universidade Livre de Berlim (FU-Berlin). Professor de História Contemporânea na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), realiza pesquisas sobre a história contemporânea da Europa e as sociedades europeias, em especial a alemã, com foco no nazismo, no autoritarismo e na cultura. Na Alemanha, publicou Politische Karikaturen und die Grenzen des Humors und der Gewalt, sobre as charges do jornal antissemita Der Stürmer. No Brasil, é autor de Os alemães e O povo de Hitler: a nazificação da Alemanha (Editora Contexto).