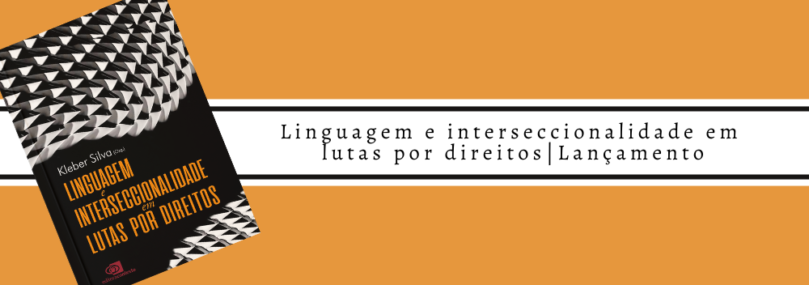A virada decolonial e os estudos interseccionais não partilham uma origem em comum, embora sejam contemporâneos. Enquanto o giro decolonial costuma ser atribuído ao trabalho do grupo modernidade-colonialidade, reunido no final dos anos 1990, formado por intelectuais latino-americanos – homens, ao menos na formulação inicial do grupo –, os estudos interseccionais têm origem reconhecida no pensamento de feministas negras estadunidenses – com muitas recentes ampliações no sul do mundo –, tendo sido cunhado o termo “interseccionalidade” por Kimberlé Crenshaw (1989), ativista de direitos civis e da teoria crítica racial.
O coletivo modernidade-colonialidade “defende a ‘opção decolonial’ – epistêmica, teórica e política – para compreender e atuar no mundo, marcado pela permanência da colonialidade global nos diferentes níveis da vida pessoal e coletiva” (Ballestrin, 2013: 89). Linhas gerais desses estudos apontam a percepção de que o fim dos impérios coloniais como estrutura política não determinou a superação das profundas desigualdades resultantes. A continuidade das colonialidades do poder, do saber e do ser é foco de atenção teórica e prática dos estudos decoloniais.
Para Grosfoguel (2016: 25), o “privilégio epistêmico dos homens ocidentais sobre o conhecimento produzido por outros corpos políticos e geopolíticas do conhecimento” gera injustiça cognitiva e privilegia projetos coloniais, em estruturas e instituições classistas, racistas e sexistas. Essa perspectiva ganha tons mais fortes no pensamento interseccional. Mesmo no âmbito do próprio giro decolonial, as reflexões iniciais do grupo modernidade-colonialidade sobre as imbricações entre gênero e raça suscitaram muitas críticas de autoras que depois propuseram um feminismo decolonial (Lugones, 2007; Curiel, 2007; Espinosa-Miñoso, 2014; sobre isso, ver Feijó; Resende, 2020).
Sobre o privilégio epistêmico, no campo da interseccionalidade, Patricia Hill Collins (2016) sustenta que a autodefinição de populações subalternizadas desafia a validação de conhecimentos estereotipados:
Em situações nas quais os homens brancos podem achar perfeitamente
normal generalizar achados de estudos sobre homens brancos para
outros grupos, mulheres negras são mais propensas a verem essa
prática como problemática, como anomalia. Similarmente, quando
feministas brancas produzem generalizações sobre a “mulher”, feministas
negras rotineiramente perguntam “a que mulher você se
refere?”. (Collins, 2016: 120)
O argumento central da interseccionalidade, como o próprio nome sugere, é o cruzamento dos eixos de opressão/subalternidade, frequentemente referidos pela metáfora das “avenidas”, o que para Patricia Hill Collins (2022) aponta o poder teórico das metáforas. A convergência estrutural de sistemas de poder – baseados em raça, classe, gênero, idade, capacidade, território etc. – demanda categorias e análises multidimensionais.
Se estamos diante de dois conjuntos de pensamentos críticos dirigidos à prática, com diferentes origens, categorias e corpos teóricos, a leitora poderá perguntar-se por que reúno os dois campos nesta apresentação. É que neste livro os capítulos apontarão, por diferentes caminhos, relações entre esses estudos, explorando seus conceitos teóricos e categorias analíticas para produzir reflexões sobre contextos complexos. Além do prefácio de Kanavillil Rajagopalan que abre lindamente o volume, Linguagem e interseccionalidade em lutas por direitos reúne dez capítulos, que passo a apresentar.
O primeiro capítulo é uma contribuição de Ana Tereza Silva e se intitula “Decolonização do conhecimento e promoção de justiça epistêmica na Universidade de Brasília”. O objetivo da autora é cotejar “insights teóricos decoloniais” e suas experiências como docente na Universidade de Brasília. Seu capítulo oferece reflexões sobre o pensamento decolonial como chave analítica que permite compreensão aprofundada do racismo epistêmico e do epistemicídio.
O capítulo seguinte, “Espaço paradoxal: academia do Sul Global entre subalternidade e privilégio”, é assinado por mim. Nesse texto, antes apresentado como conferência no Sociolinguistics Symposium e cuja versão anterior foi publicada em inglês (Resende, 2023), discuto o espaço paradoxal que ocupamos as acadêmicas latino-americanas, e para isso lanço mão do conceito de colonialidade do ser. Argumento que uma reflexão crítica é necessária para aproveitar oportunidades para subverter sistemas interseccionais de poder quando esses sistemas nos privilegiam.
O capítulo de Tânia Ferreira Rezende, intitulado “Educação linguística antirracista para justiça existencial”, cumpre o papel de denunciar a cumplicidade das instituições na manutenção do racismo antinegro. Para isso, ela discute o conceito de letramento como estratégia de “acolhimento e manutenção de existências”, tomando por base a biografia de Leodegária de Jesus, intelectual negra e primeira mulher goiana a publicar um livro de poemas naquele estado.
Maria Aparecida Sousa, no capítulo seguinte, “A construção sociodiscursiva da pessoa criminalizada”, analisa a representação ideológica de pessoas criminalizadas como “monstruosas”. Tomando dados em que a representação é acionada em uma diversidade de gêneros e domínios discursivos, a autora recupera as metáforas como estruturantes de sistemas de crenças e conhecimentos que moldam ideologias e as atitudes subjacentes.
O capítulo assinado por María Pilar Acosta intitula-se “Marchas de mulheres no Brasil e a estética da reexistência”. Ela parte de uma compreensão das marchas como metodologias de ação política organizada e volta seu olhar para a Marcha Mundial das Mulheres, a Marcha das Margaridas, a Marcha das Mulheres Negras e a Marcha das Mulheres Indígenas, entendidas como espaços de formulação de epistemologias, metodologias e tecnologias sociais. Propõe reflexão teórica e metodológica baseada em análises de textos produzidos nos contextos de marchas de mulheres no Brasil entre 2000 e 2021.
O sexto capítulo deste livro é assinado por Jandira Azevedo Silva e Maria Izabel Magalhães. Em “A deficiência visual e o enfrentamento do capacitismo”, as autoras retomam o foco nas avenidas cruzadas dos eixos de opressão. Elas discutem a interseccionalidade como práxis, ao defini-la como conceito que promove reflexão sobre ações dirigidas à garantia de direitos fundamentais de grupos em desvantagem. Com escopo na denúncia do capacitismo, seu foco recai sobre a discriminação de pessoas por motivo de deficiência, compreendida como um eixo de opressão interseccional ao racismo e ao sexismo. Assim, as autoras promovem reflexão sobre relações entre interseccionalidade, discurso e discriminação.
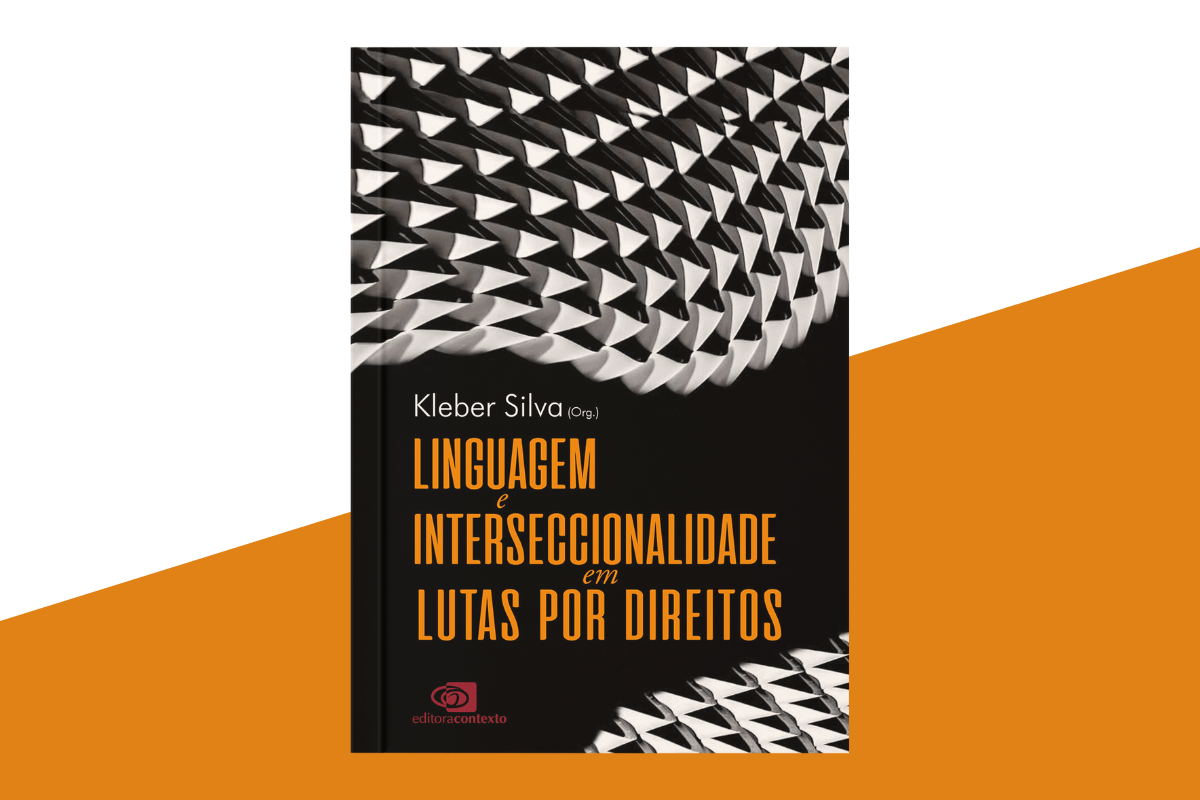
Os quatro capítulos finais do livro têm por tema contextos educacionais. Em “Quilombolas e indígenas: racismo e desigualdades na educação”, as autoras Givânia Maria Silva, Maria Diva Rodrigues, Fabiana Vencezlau e Graça Atikum contextualizam a luta de povos quilombolas e indígenas por uma educação focada em valores, saberes e culturas como parte do processo de resistência contra um sistema educacional que, muitas vezes, silencia, invisibiliza, estigmatiza e exclui. A discussão segue os casos do quilombo de Conceição e do povo Atikum.
O capítulo seguinte, assinado por Rosineide Magalhães Sousa e intitulado “Socioletramento: interface entre os saberes do campo e o conhecimento acadêmico na perspectiva (auto)etnográfica”, segue na temática da educação no campo, discutindo os desafios do letramento acadêmico para pessoas quilombolas, ribeirinhas, indígenas que acessam a Licenciatura em Educação do Campo. Assim como no capítulo anterior, neste a autora também reconhece o contexto educacional como elitizado e excludente. Magalhães reflete sobre como a universidade tensionada pode construir estratégias de superação.
Loyde Cardoso, Renísia Garcia Filice e Adriana Lima Barbosa assinam o capítulo “Alforria pela palavra poética em Conceição Evaristo: mulheres negras em cena”. As autoras sustentam a escrevivência de Conceição Evaristo como expressão poética feminista negra, como práxis radical subversiva, e explicam que o conceito de escrevivência refere-se à “potência gerada na inscrição da mulher negra na autoria da ficção”.
O décimo capítulo, de Helenice Roque-Faria, Rosana Helena Nunes e Kleber Silva, advoga “Por um ensino de língua portuguesa racializado”. As autoras e o autor realizam o objetivo de refletir sobre racismo em chave interseccional, atentando para complexidades históricas e estruturais. O foco do trabalho são os documentos orientadores da educação brasileira.
A leitora observará que nesta coletânea alguns capítulos se debruçam detidamente no pensamento decolonial (ou contracolonial), outros tomam forte apoio nos estudos interseccionais, sempre delimitando as teorias críticas em abordagens dos estudos de linguagem (análise do discurso, sociolinguística, linguística aplicada). Há também capítulos que nos desafiam ao não deixar explícitas as pistas que os guiam nessas veredas, e nesses casos vamos descobrindo as interseções à medida que a leitura avança.
Linguagem e interseccionalidade em lutas por direitos traz contribuições relevantes e contextualizadas, que servirão de inspiração para outros estudos.
Organizada por:
Kleber Silva é professor do Instituto de Letras da Universidade de Brasília (UnB) e pesquisador do CNPq (PQ 2A). Possui pós-doutorado em Linguística Aplicada pela Unicamp; em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; em Linguística na Universidade Federal de Sana Catarina; em Linguística Aplicada na Pennsylvania State University, USA; em Estudos Linguísticos na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); em Didáticas das Línguas na Universidade De Genebra, Suíça e em Educação Multilíngue e Letramento na Universidade de Witwatersand, África do Sul. É também coordenador da coleção Linguagem na Universidade, publicada pela Contexto.
Autores: Adriana Lima Barbosa, Ana Tereza Silva, Fabiana Vencezlau, Givânia Maria Silva, Graça Atikum, Helenice Roque-Faria, Jandira Azevedo Silva, Kanavillil Rajagopalan, Loyde Cardoso, Maria Aparecida Sousa, Maria Izabel Magalhães, María Pilar Acosta, Maria Diva Rodrigues, Renísia Garcia Filice, Rosana Helena Nunes, Rosineide Magalhães Sousa, Tânia Ferreira Rezende e Viviane de Melo Resende.