A análise da inserção internacional do Brasil, compreendida em sua extensão temporal desde 1808 até o século XXI, constitui um desafio intelectual de primeira ordem. Investigar a complexa teia de fatores internos e externos que condicionaram a trajetória de um país de dimensões continentais, dotado de singularidades históricas e estruturais, exige uma abordagem que transcenda a mera descrição factual ou a aplicação de modelos teóricos a-históricos. Com efeito, desde seus primórdios como nação independente, o Brasil se apresenta, no contexto latino-americano, distinto por particularidades marcantes nos planos histórico e estrutural: notabilizou-se por manter, por mais de seis décadas, uma monarquia constitucional de matriz portuguesa, enquanto seus vizinhos rompiam precocemente com os laços coloniais em repúblicas muitas vezes efêmeras; demonstrou notável capacidade de herdar e adaptar a complexa burocracia e o regime jurídico lusitano, num processo de continuidade institucional quase inédito na região; e logrou conservar-se como uma massa territorial continental coesa, cuja própria vastidão, contudo, exacerbou desafios persistentes de integração interna, comunicação e governança, especialmente em suas remotas fronteiras interiores. Essas singularidades fundantes tiveram implicações diretas na forma como o país se relacionou com o mundo desde o início.
O propósito central desta obra é oferecer uma interpretação crítica e historicamente fundamentada da inserção do Brasil nas Relações Internacionais, examinando não apenas os eventos e as decisões que pontuaram esse percurso, mas, fundamentalmente, os processos de longa duração, as continuidades e as inflexões que moldaram a capacidade de ação do Estado, as interações entre este e a sociedade brasileira – em suas múltiplas clivagens e interesses –, além de sua projeção no sistema internacional. Trata-se, portanto, de um esforço de compreensão de como o Brasil se constituiu como ator internacional, quais foram as lógicas e os interesses subjacentes às suas estratégias de inserção, como estas impactaram e foram impactadas pela sociedade, e como a evolução histórica nos trouxe para onde estamos, condicionando as possibilidades do presente.
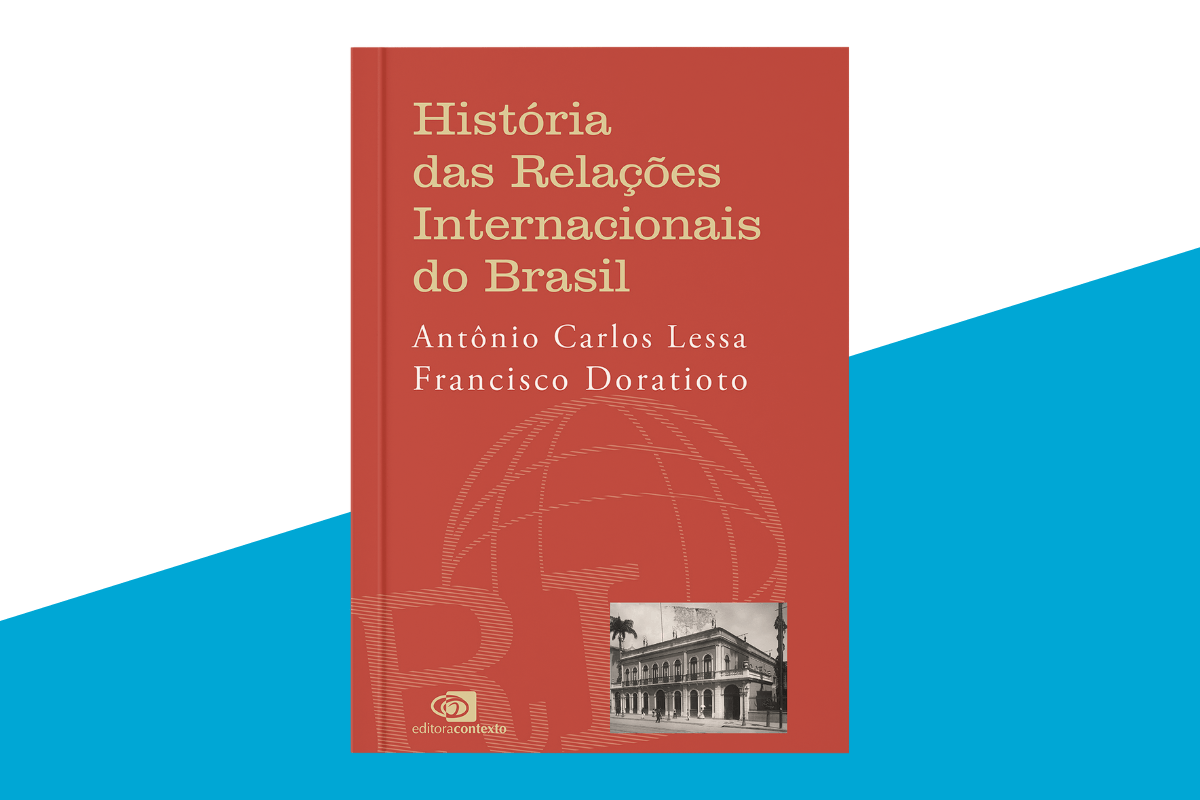
O estudo da História, como disciplina, oferece ferramentas insubstituíveis para decifrar a complexidade do presente nas Relações Internacionais. Ele permite ir além das aparências conjunturais e identificar padrões de comportamento estatal, legados institucionais, dependências estruturais e narrativas identitárias que, muitas vezes de forma implícita, condicionam as escolhas e as percepções dos tomadores de decisão e da própria sociedade. Nesse sentido, a incorporação de uma sensibilidade histórica crítica revela-se indispensável para a interpretação das práticas diplomáticas e das opções estratégicas adotadas pelo país ao longo do tempo. Sem o devido entendimento das origens de alianças, rivalidades e desafios do século XXI, corre-se o risco de repetir analogias simplistas que podem conduzir a equívocos estratégicos de grande envergadura; ignorar essa dimensão histórica ou sucumbir ao seu uso superficial pode levar, portanto, a graves erros de avaliação. Por esse motivo, o resgate criterioso das experiências pretéritas não se confina a um exercício erudito; constitui ferramenta de reflexão indispensável à formulação e à avaliação de políticas externas contemporâneas. Cultivar essa sensibilidade histórica significa desenvolver a capacidade de ler o presente à luz das experiências acumuladas, de ponderar os múltiplos ritmos do tempo histórico e de avaliar com maior realismo os limites e as potencialidades da ação diplomática em cada contexto.
A pertinência desse olhar histórico aprofundado sobre as Relações Internacionais do Brasil se fundamenta, assim, não apenas na necessidade de compreender a natureza do fazer político e estratégico do Estado ou os desafios do desenvolvimento nacional, mas também em sua capacidade de revelar como a inserção internacional molda e é moldada pela própria sociedade brasileira – suas estruturas, seus diversos atores e suas desigualdades. Adicionalmente, essa perspectiva histórica é crucial para discernir as limitações estruturais impostas ao país por sua posição no sistema internacional, incluindo as relações de dependência e a dinâmica dos sistemas de poder globais que historicamente condicionaram sua margem de autonomia e suas possibilidades de avanço socioeconômico. Para o Brasil, cuja trajetória foi marcada pela busca incessante por modernização econômica e pela superação de desafios estruturais, compreender como as diferentes estratégias de inserção internacional facilitaram ou dificultaram esses processos é de importância central. Este livro, portanto, repudia a perspectiva de uma crônica linear, buscando, ao contrário, decifrar os padrões e as causalidades que explicam a evolução da inserção internacional brasileira e seu impacto na sociedade.
Dotando a perspectiva da História das Relações Internacionais do Brasil (como poderíamos falar sobre a História das Relações Internacionais da Argentina, ou da França, ou dos Estados Unidos…) como um recorte disciplinar, podemos conceituá-la como uma área de especialização que se situa na interseção crucial entre a História e as Relações Internacionais (frequentemente vinculada à Ciência Política), nutrindo-se de ambas, mas desenvolvendo um enfoque próprio. Sua especificidade reside na análise diacrônica das interações de um Estado – e, crescentemente, de sua sociedade – com o ambiente externo, buscando compreender a gênese, a evolução e as transformações de sua inserção no sistema internacional. A natureza intrinsecamente interdisciplinar desse recorte é sua característica definidora e sua maior fortaleza analítica. Para investigar adequadamente os múltiplos vetores que conformam a trajetória internacional de um país como o Brasil, a História das Relações Internacionais mobiliza, necessariamente, ferramentas conceituais e metodológicas de diversas áreas do conhecimento: o diálogo com a Ciência Política é imprescindível para a compreensão das decisões de política externa (teorias de processo decisório, análise de poder); o estudo dos fluxos econômicos (comércio, investimentos, finanças) requer instrumentais da Economia e da História Econômica; o estudo dos movimentos humanos (migrações, diásporas) e dos intercâmbios culturais (circulação de ideias, arte, educação) beneficia-se de aportes da Sociologia e da Antropologia; e a interpretação de tratados e regimes normativos demanda conhecimento do Direito Internacional.
É precisamente essa capacidade de articular diferentes lentes que distingue a História das Relações Internacionais tanto do exame da política externa − que privilegia as diretrizes e as decisões estratégicas do Executivo (do governo do momento) − quanto do enfoque estrito da diplomacia, voltado às negociações formais e ao aparato profissional dos diplomatas. A ênfase da História das Relações Internacionais reside na articulação desses níveis (estratégico e técnico) com os fluxos mais amplos que constituem as relações internacionais: os fluxos econômicos, os movimentos humanos, os intercâmbios culturais e a circulação de ideias, tecnologias e normas que atravessam fronteiras. Essa abordagem permite apreender como pressões internas − sociais, econômicas, culturais − interagem com oportunidades e constrangimentos externos para definir padrões de cooperação, competição e autonomia, revelando continuidades estruturais e rupturas paradigmáticas na inserção global do país. Metodologicamente, isso se traduz na mobilização de fontes diversificadas: de tratados oficiais e arquivos diplomáticos, que documentam acordos formais, a estatísticas comerciais, relatos de viajantes, redes epistolares internacionais e, crucialmente, a vasta oferta de estudos monográficos de larguíssima envergadura que, utilizando técnicas historiográficas inovadoras sobre massas empíricas complexas, têm descortinado muitas dinâmicas subjacentes à inserção internacional e às relações entre nações. Com isso, torna-se possível construir uma compreensão histórica mais rica e multidimensional, integrando documentos oficiais, as visões dos formuladores de políticas e atores conhecidos, e desvelando os interesses de atores por vezes ocultos que influenciam os acontecimentos. Enfim, a disciplina oferece um quadro analítico capaz de explicar o “porquê” e “o quê” das diretrizes estatais, e o “como” de sua implementação real em múltiplos campos, superando a dicotomia entre política externa e diplomacia estrita, e incorporando, a partir de uma perspectiva integradora, a dinâmica multissetorial que molda as relações internacionais contemporâneas.
Estruturar analiticamente uma trajetória de mais de dois séculos, como a das Relações Internacionais do Brasil desde 1808, impõe a necessidade de recorrer à periodização como ferramenta de organização e inteligibilidade. É fundamental reconhecer, contudo, o caráter intrinsecamente construído e interpretativo de qualquer divisão do tempo histórico. A definição de marcos, a seleção de critérios e a identificação de fases de continuidade ou ruptura refletem inevitavelmente as escolhas analíticas do historiador e os fenômenos que elege como mais significativos. Nesse sentido, consideramos duas questões centrais sobre este recurso metodológico. A primeira é que a própria periodização constitui, em si, uma forma de explicação do objeto; ao ordenar os eventos e os processos, o historiador já está propondo uma interpretação sobre causalidades e hierarquias de relevância. A segunda é que, não obstante sua natureza interpretativa, a periodização oferece um inegável “conforto pedagógico”, uma estrutura que facilita o entendimento e a apreensão do objeto de estudo, tornando a complexidade do passado mais acessível.
É importante ressalvar, entretanto, que ao adotar uma periodização específica para a História das Relações Internacionais do Brasil, rejeitamos formalmente a simples superposição desta às interpretações mais comuns da história social e política geral do país. A inserção internacional do Brasil possui dinâmicas, marcos temporais e lógicas próprias, ligadas às transformações do sistema internacional e às estratégias específicas de inserção externa. No entanto, concordamos que há, sim, profundas e inegáveis interpenetrações, uma vez que falamos do mesmo país, da mesma sociedade, das mesmas dinâmicas de modernização e, frequentemente, das mesmas causas estruturais de atraso relativo ou de desenvolvimento. A decisão de iniciar esta obra em 1808, por exemplo, ancora-se na interpretação da transferência da Corte portuguesa como um ponto de inflexão crítico para a formação do Estado e sua capacidade de ação externa, embora reconheçamos que outros marcos poderiam ser privilegiados em uma análise estritamente social ou política. Estamos cientes de que outras periodizações, baseadas em diferentes critérios, são igualmente possíveis e válidas. A estrutura adotada nos capítulos subsequentes busca, portanto, oferecer uma chave de leitura específica, fundamentada nas lógicas predominantes e nos dilemas centrais que marcaram a evolução da inserção internacional brasileira e sua relação com os projetos de desenvolvimento nacional em cada fase, utilizando a periodização como ferramenta para iluminar esses processos, sem ignorar suas conexões com a história mais ampla do Brasil.
Ao longo desta obra, percorreremos as seguintes grandes etapas: o período imperial (1808-89) − capítulo “O Império e a gênese contraditória da inserção internacional do Brasil (1808-89)” −, analisando a construção do Estado, os custos da independência, a definição territorial e a complexa gestão da hegemonia regional no Prata sob a influência britânica; a Primeira República (1889-1930) − capítulo “Os dilemas das relações exteriores sob a Primeira República: crises internas e a inserção internacional do Brasil (1889-1930)” −, período de consolidação do território, por meio da negociação das fronteiras com os vizinhos, sob a égide do Barão do Rio Branco, de redefinição das relações com os Estados Unidos e de primeiras experiências de engajamento global em um mundo convulsionado pela Grande Guerra; o período de 1930 a 1964 − capítulo “Nacionalismo, desenvolvimento e política externa (1930-64)” −, centrado na ascensão do nacionalismo desenvolvimentista, nas estratégias pragmáticas durante a Segunda Guerra Mundial e na busca por autonomia através da política externa independente; o regime militar (1964-90)” − capítulo “Apogeu e crise do desenvolvimentismo autoritário (1964-90) −, desde o realinhamento inicial ditado pela Doutrina de Segurança Nacional até a posterior adoção do “Pragmatismo Responsável”, em um contexto de “milagre econômico”, repressão política e crise do endividamento; e, finalmente, o período pós-Guerra Fria até o século XXI − capítulo “Inserção global do Brasil: crise de paradigma e busca por um novo modelo (1990-2025) −, examinando a busca por “Autonomia Estratégica” na globalização, as fases de ativismo e retração da atuação global do Brasil, bem como os desafios deste século impostos pela polarização política interna à inserção internacional do país.

Em cada um desses períodos, a análise buscará desvendar a interação dinâmica entre os projetos de poder e modernização formulados internamente (influenciados por diferentes grupos sociais e elites), as capacidades efetivas do Estado brasileiro, os constrangimentos e as oportunidades oferecidos pelo sistema internacional, e as estratégias diplomáticas empregadas para promover a inserção externa e superar os desafios estruturais ao avanço socioeconômico. O objetivo último desta obra é, portanto, oferecer uma reflexão crítica, densa e empiricamente fundamentada sobre a construção histórica das relações exteriores do Brasil. Nessa empreitada, reconhecemos imensamente o notável crescimento e o amadurecimento da pesquisa histórica sobre as diferentes dimensões da inserção internacional do Brasil ocorridas nas últimas décadas, bem como nos beneficiamos deles, com a oferta de trabalhos de fôlego que, em muitos casos, propuseram reinterpretações e mudaram visões consolidadas sobre nosso objeto de estudo. Ao investigar a interação complexa entre Estado, sociedade e sistema internacional, esperamos contribuir para um entendimento mais sofisticado dos fatores que moldaram a trajetória do país, os quais continuam a desafiar sua capacidade de atuação autônoma e projeção construtiva no século XXI.
Antônio Carlos Lessa é professor titular de Relações Internacionais da Universidade de Brasília (UnB). No Instituto de Relações Internacionais da UnB, exerce as funções de diretor-adjunto do Centro de Estudos Globais, coordena o Grupo de Pesquisa em Política Externa Brasileira (CNPq) e ministra disciplinas nos cursos de graduação e de pós-graduação. Doutor em História pela UnB, é autor, coautor e organizador de dezenas de trabalhos, entre livros, capítulos e artigos científicos, publicados no Brasil e no exterior. Como consultor, assessora os Ministérios das Relações Exteriores, da Educação, da Ciência e Tecnologia e da Defesa, além de organizações governamentais e não governamentais, contribuindo em estratégias de governança, avaliação em educação, ciência, tecnologia e inteligência de informação. É coautor de História das Relações Internacionais, Europa: integração e fragmentação e História das Relações Internacionais do Brasil, publicados pela Contexto.
Francisco Doratioto é professor emérito da Universidade de Brasília (UnB), onde dedicou grande parte de sua carreira ao ensino e à pesquisa em História da América e História das Relações Internacionais do Brasil. Doutor em História, com ênfase em Relações Internacionais pela UnB, atua como professor colaborador no Programa de Pós-Graduação em História dessa mesma universidade. É autor de dezenas de livros e artigos publicados no Brasil e no exterior. Foi docente no Instituto Rio Branco, onde formou gerações de diplomatas, e é membro correspondente de instituições, como o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, a Academia Paraguaya de la Historia, a Academia Nacional de la Historia (Argentina) e o Instituto de Geografia e História Militar do Brasil. É coautor de História das Guerras e História das Relações Internacionais do Brasil, publicado pela Contexto.

