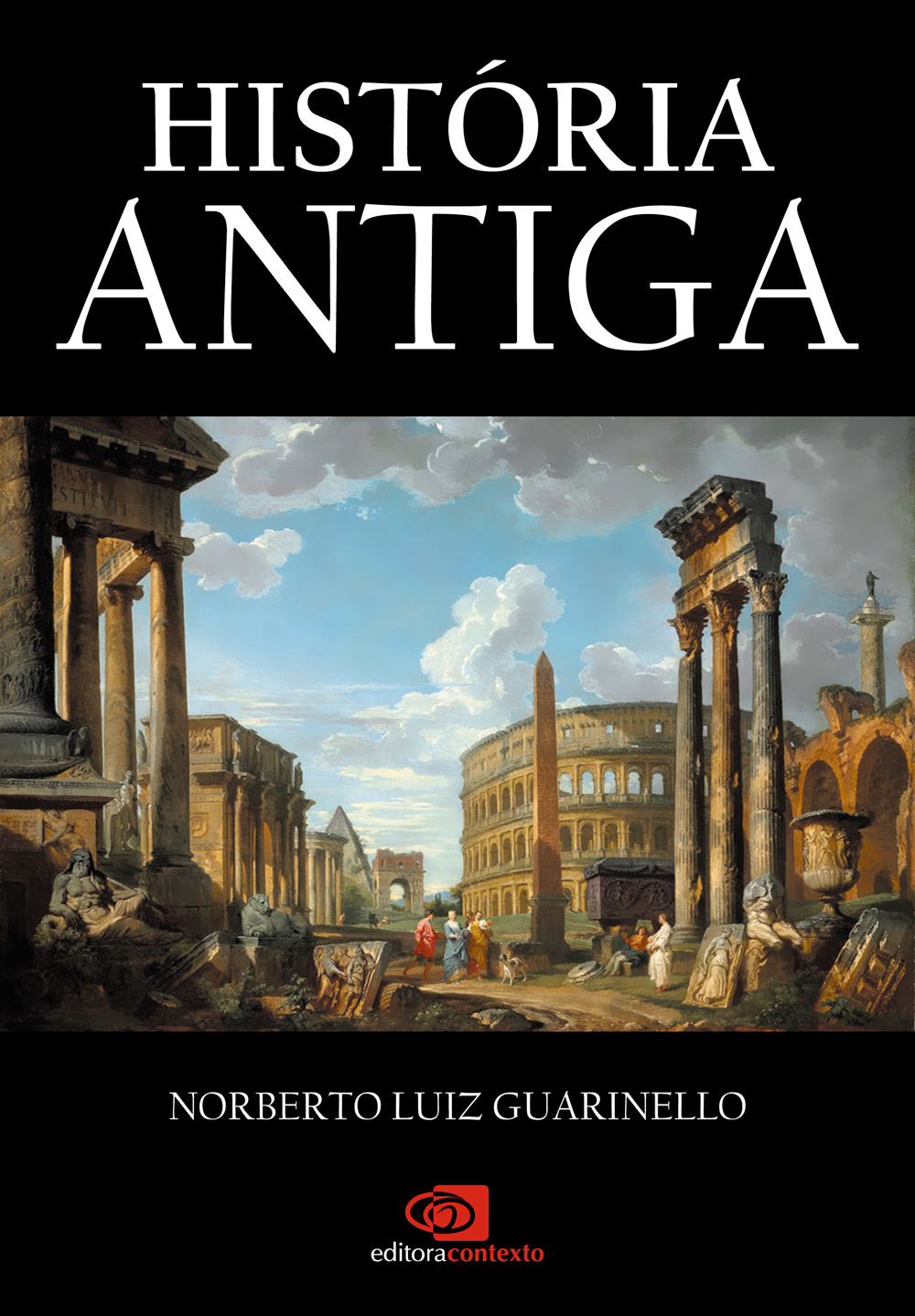Um dos marcos da nova forma de pensar a História Antiga foi o livro A cidade antiga, do francês Fustel de Coulanges, publicado em 1864. A ideia central desse autor era de que a cidade greco-romana se originara da comunidade religiosa indo-europeia, centrada no culto ao fogo doméstico e aos ancestrais. Ela seria uma família progressivamente ampliada e transformada pela evolução das ideias religiosas.

De Coulanges, na verdade, dividiu seu livro em duas partes. Na primeira parte, apresentou uma espécie de pré-história da cidade antiga, que remontava às origens dos tempos e na qual a cidade era tratada como uma comunidade de culto oriunda da junção de famílias (gentes), e destas em tribos, e por fim em cidades, cada qual exclusiva, pois compartilhava deuses e rituais únicos. A cidade religiosa seria, assim, a unidade básica da História Antiga, vista como uma etapa no desenvolvimento da inteligência dos indo-europeus. Cada cidade seria uma igreja específica, embora os fundamentos da comunidade religiosa fossem comuns a todas elas. Seu particularismo era, portanto, seu traço de união, assegurado pela unidade da raça ariana.
Na segunda parte da obra, a que trata da cidade histórica propriamente, esta já aparecia em pleno processo de sua dissolução. Os vínculos comunitários teriam se enfraquecido progressivamente e as cidades assumido as características de sociedades em conflito, pelo poder e por bens materiais, o que preanunciava seu desaparecimento sob a conquista romana.
Dois autores, que não eram historiadores da Antiguidade, merecem uma menção especial, pois influenciaram muito a História Antiga na segunda metade do século xx: Karl Marx e Max Weber. Os escritos de Marx sobre a Antiguidade são esparsos e muitas vezes contraditórios. Há duas linhas de pensamento principais, que influenciaram a historiografia do século xx. A mais conhecida delas é claramente evolucionista. Marx definiu etapas do desenvolvimento histórico que denominou de modos de produção, caracterizados pelas diferentes relações de exploração entre proprietários e trabalhadores. Esses modos seriam universais e apareceriam na História como uma sequência: a comuna primitiva, o modo de produção asiático, o escravista, o feudal e o capitalista.
Mas foi em um rascunho escrito em 1857, intitulado Formas que precedem a exploração capitalista, que Marx apresentou sua mais bem elaborada visão da Antiguidade. Nesse texto, de caráter bastante especulativo, Marx contrapunha a forma da cidade greco-romana, que chamava de cidade antiga, com o que denominava de forma asiática e de forma germânica. Ao contrário do mundo contemporâneo, essas formas se caracterizariam por um forte vínculo comunitário, entendido como condição para a apropriação produtiva da terra. Na forma antiga, que aqui nos interessa, a comunidade também era a condição prévia da apropriação da terra, mas não aparecia na forma de uma comunidade superior – como no mundo asiático, que englobava as comunidades menores –, mas sim como uma associação única, a cidade. O trabalho da terra não era difícil, não sendo necessários esforços coletivos. O fator determinante era a presença de outras comunidades disputando o território. A guerra (e não as obras públicas) era a grande tarefa comunal.
A comunidade/cidade seria assim uma força militar. A concentração de moradias na cidade seria a base de uma organização bélica. A guerra, por sua vez, e a própria natureza da estrutura tribal anterior levariam à diferenciação entre os membros da comunidade (inferiores e superiores, conquistadores e conquistados, livres e escravos).
Seria dessa forma, segundo Marx, que a propriedade comunal teria se separado da propriedade privada. Na cidade antiga, a terra era apropriada e trabalhada individualmente, porque não necessitava de trabalhos coletivos. A comunidade, ou cidade, era a relação recíproca entre proprietários privados, sua aliança contra o exterior, sua garantia de propriedade. Na visão de Marx, era uma sociedade de pequenos camponeses que cultivavam a própria terra. Tornando-se mais prósperos, exploravam escravos estrangeiros.
Para ser proprietário privado, a condição prévia era ser membro da comunidade, era ser cidadão. O indivíduo se relacionava com a terra e com a comunidade ao mesmo tempo. O fato de possuir terra dependia da existência do próprio Estado. Mas a cidade só se mantinha se as diferenças entre seus cidadãos não fossem muito acentuadas. O crescimento da desigualdade entre os proprietários livres levava à guerra civil e à dissolução da comunidade.
O texto de Marx, apesar de conter alguns elementos presentes nos modelos contemporâneos, permaneceu praticamente desconhecido até o final dos anos de 1950 e não exerceu influência sobre os trabalhos imediatamente posteriores.
Max Weber, que conhecia bem as fontes da História Antiga, também centrou suas interpretações em torno da cidade antiga, sem se importar com as divisões tradicionais entre as Histórias da Grécia ou de Roma. Max Weber escreveu três textos fundamentais para o historiador da Antiguidade: As causa do declínio da cultura antiga, de 1896, Relações agrárias na Antiguidade, de 1898, e um texto denso e complexo, publicado postumamente em 1924 e que não diz respeito apenas à Antiguidade, A cidade. Não seria justo com Weber procurar contradições em seu pensamento ao longo de mais de 30 anos, nem exigir uma absoluta coerência. Vamos nos ater a alguns pontos que foram muito influentes para a História Antiga.
Como em Marx, a ideia essencial de Weber é a de que existiu uma cidade “ocidental”, diferente daquela “oriental”. A cidade ocidental caracterizava-se por ser uma comuna de agricultores, cidadãos independentes e proprietários privados. Já a cidade oriental era dominada por uma burocracia e dependia de um poder centralizado, que podia ser um palácio monárquico e guerreiro ou um grande templo.
Na cidade ocidental, que primeiro fora aristocrática, os pobres haviam ganhado, com sua cidadania e sua liberdade política, o direito de não serem explorados pelos mais ricos. Estes últimos dependiam da exploração racional do trabalho escravo, tanto no campo, como na cidade. A diferença entre a cidade antiga e a medieval era mais sutil. Para Weber, a cidade era o centro urbano que, como tal, diferenciava-se do espaço rural, podendo dominá-lo, ser dominado por ele, ou mesmo apartar-se do mundo rural.
Para Weber, tanto a cidade antiga como a medieval eram burguesas, no sentido de que se sobrepunham às grandes famílias, suprimiam as relações entre gentes aristocráticas e instituíam uma forma de poder público, e não familiar ou hereditário. Para Weber, a cidade antiga era, acima de tudo, a sede dos proprietários rurais, que viviam das rendas obtidas no campo. Nesse sentido, eram cidades consumidoras, pois não precisavam, ao contrário das cidades medievais, desenvolver uma produção artesanal própria para garantir seu abastecimento.
Por isso, mesmo sendo ocidentais, as cidades antigas não levaram ao desenvolvimento do artesanato e do capitalismo. Os artesãos não se organizavam em corporações de ofício, como nas cidades medievais, e a burguesia era instável. Preferia investir as riquezas do artesanato e do comércio em terras, para aumentar seu status social. A riqueza urbana do mundo antigo conduziu as elites a um estilo de vida ocioso, voltado para o luxo e a produção cultural: essa foi uma de suas fraquezas, mas também uma das causas do brilho da cultura antiga. O declínio do abastecimento de escravos, provocado pelo fim das conquistas do Império Romano, levou à queda da produção mercantil e racional, marcando a decadência da cidade antiga e a perda de brilho de sua cultura erudita.
Ao longo do século xix, a disciplina de História Antiga se institucionalizou nas universidades europeias e seu ensino se difundiu pelos sistemas escolares criados pelos Estados nacionais nascentes. O aprendizado da História Antiga, feito nos moldes tradicionais, como Histórias separadas de nações vistas em sucessão, atuava como contexto para a contemplação e compreensão dos textos “clássicos” escritos em latim e grego. O ensino dessas línguas mortas formava uma parte central no currículo escolar das elites ocidentais. Participar dessa cultura ilustre, de difícil aprendizado, legitimava a superioridade das elites, na Europa e no Brasil. Produzia, além disso, uma memória do “Ocidente”, uma identidade “ocidental”, que explicava e justificava o domínio dos países capitalistas, mais desenvolvidos tecnologicamente, sobre o restante do globo.
As Histórias do Oriente Próximo, da Grécia e de Roma foram parte de um amplo debate político, que opunha o despotismo oriental à liberdade individual do Ocidente: discutiam-se as vantagens e as desvantagens da democracia ateniense; debatiam-se a demagogia e a irracionalidade das massas; ou se procurava, nas virtudes morais e guerreiras dos romanos, uma explicação para o sucesso de seu imperialismo. A História Antiga não explicava, apenas, a superioridade do Ocidente. Ela também espelhava, em termos bastante amplos, os intensos conflitos sociais que agitavam as nações europeias.
O desenvolvimento da ciência histórica, no entanto, não estava apenas a serviço do poder. Embora partilhasse uma visão de mundo da qual era impossível, à época, escapar, desenvolveu conceitos inovadores para se pensar a História Antiga. Alguns deles seriam aplicados somente décadas depois, mas não devem ser minimizados. Por meio da análise crítica das fontes e do uso cada vez mais intenso das teorias sociais, a historiografia foi capaz de reformular por completo a visão que se tinha do mundo antigo. Este se tornara um mundo diferente do presente, que devia ser estudado em seus próprios termos, por meio de um conceito que lhe dava uma nova unidade: a cidade antiga.
Norberto Luiz Guarinello é doutor em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo (USP) e professor de História Antiga do Departamento de História da mesma instituição. Pela Contexto é autor dos livros História Antiga e História da Cidadania.