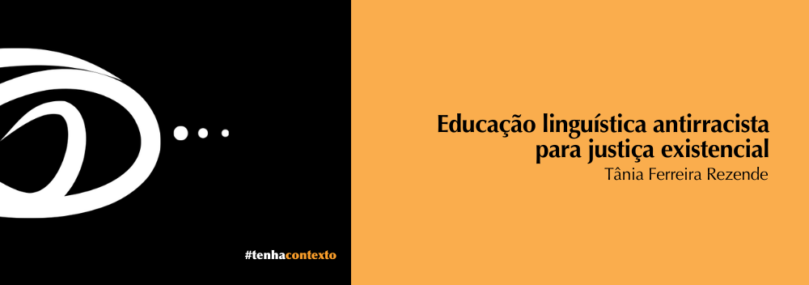Na formação da estrutura de mundo e de sociedade que herdamos, os homens nunca foram impedidos de ocupar lugares e postos de poder por serem homens. Pelo contrário, os lugares de mais poder nas hierarquias são de exclusividade masculina, como o papado e os demais cargos importantes da Igreja, as altas patentes militares, os altos cargos acadêmicos e das grandes empresas.
Do mesmo modo, pessoas brancas nunca foram impedidas de nada no mundo por serem brancas. As mulheres e as pessoas negras que tiveram importância histórica no campo religioso, político, militar, intelectual e cultural foram sufocadas pelo silêncio da História ou, atualmente, ocupam lugar de destaque entre as “exceções” retiradas do poço do esquecimento histórico. O mesmo pode ser dito das pessoas situadas nas periferias do mundo euro-judaico-cristão, hierarquizado e normatizado pela hegemonia do território, do corpo e da fortuna. O privilégio masculino branco (cis hétero) do dizer e do escrever, com credibilidade compulsória, é a pena que escreve a História, até mesmo sem tinta.
O Brasil não foi e não é diferente do restante do mundo. Durante os períodos colonial e imperial, sob o regime de trabalho escravagista, a hierarquia social normatizadora era marcada, principalmente, entre senhores/as e escravizados/as, e pelas demais complexas codificações, como território, corpo e fortuna. Depois, ao final do século XIX, formalmente findados a colonização (1822), o escravagismo (1888) e o Império (1889), a raça, codificada pela cor da pele (Fanon, 2008 [1952]) e pelos traços do rosto, como boca, nariz, cabelo e lugar de origem, passou a ser, sem excluir as demais, o fundamento da hierarquização de poder, subjugando socioeconomicamente a população negra, constituindo e fundamentando o “racismo estrutural” (Almeida, 2019), estruturador da sociedade.
O Estado, pactuado com a Igreja, por meio de outras instituições, como a família, a escola básica e a universidade, mantém a matriz racial de valores, sendo cúmplice da branquitude, daí o “racismo institucional”. As atuais taxas de analfabetismo no Brasil escancaram como o racismo institucional opera para manter a população negra na mesma posição da estrutura social.
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (IBGE/PNAD) mostra, com pequenas variações, que desde 2016 a alteração na taxa geral de analfabetismo é pequena e é persistente entre pessoas negras. De acordo com dados referentes a 2022 (IBGE/PNAD, 2023), 9,6 milhões de brasileiros/as (5,6% da população) com 15 anos de idade ou mais não se apropriaram da leitura e da escrita, equivalendo a 0,5 ponto percentual de queda na taxa de analfabetismo entre 2019 (6,1%) e 2022 (5,6%), sendo que não sabem ler nem escrever 5,9% dos homens e 5,4% das mulheres. Em 2022, pela primeira vez, mais da metade da população brasileira (53%), a partir de 25 anos de idade, concluiu, pelo menos, o ensino médio.
A taxa de pessoas negras (pretas e pardas) que não sabem ler nem escrever caiu de 8,9, em 2019, para 7,4%, em 2022, ao passo em que a das pessoas brancas caiu de 3,6 (2019) para 3,4% (2022). Apesar de ter diminuído, persiste a exclusão escolar situada: as maiores taxas de analfabetismo estão entre as pessoas negras, se encontram maximamente (acima de 23%) na região Nordeste (Piauí, Alagoas e Paraíba) e entre as pessoas idosas.
Com relação ao ensino superior, no marco dos dez anos da Lei de Cotas (Lei 12.711/2012), e dos vinte anos da Lei 10. 639/2003, mais de 70% dos/as jovens negros/as, entre 18 e 24 anos de idade, em 2022, não haviam concluído o ensino superior e não estavam estudando. Entre a juventude branca, o percentual era de 57%. A principal razão apresentada para deixar os estudos foi a necessidade de trabalhar, apesar da alta desempregabilidade do momento.
As instituições, conduzidas e controladas pela masculinidade branca, são cúmplices da branquitude, por isso, o racismo institucional sustenta a estrutura social, que é racista, mantendo as pessoas negras cativas nos porões, nos cárceres e nos necrotérios da sociedade (Rezende, 2017). Os dados do IBGE/PNAD (2023) permitem inferir que, no Brasil, a instituição escolar, da educação infantil até a universidade, sustenta o projeto de sociedade e de nação que foi instaurado e vem sendo mantido desde a colonização. Os cargos e postos mais importantes das instituições, que exigem alto nível de instrução, são ocupados pelos mesmos perfis sociais, senão, em muitos lugares, pelas mesmas famílias, desde a colonização.
A educação, sobretudo o ensino superior, é uma das maneiras de fazer justiça social e existencial, pois é uma das possibilidades de acesso e manutenção da vida digna, tendo em vista as necessidades materiais e espirituais da vida, e da existência, politicamente propondo. Por isso, o acesso à educação superior, historicamente e ainda atualmente, é uma reserva disputada. Dessa forma, a educação linguística, no sentido de transformar e refundar as significações de mundo pela linguagem, é um importante caminho para se promover justiça existencial.
As complexas percepções dessas codificações são o que compreendo por “letramentos racializados”, e suas decodificações e denunciações são o que proponho como “letramento antirracista”, o enfrentamento aos letramentos racializados. Para isso, é fundamental uma educação linguística antirracista.
No contexto de (d)enunciação (Evaristo, 2017) do lugar, histórica e socialmente (pré)destinado à pessoa negra pelo projeto de sociedade e de nação – na estrutura da sociedade, ainda sob os efeitos do colonialismo escravagista –, a discussão sobre educação linguística antirracista para a justiça existencial baseia-se na trajetória de vida de Leodegária de Jesus. Ela, uma intelectual negra goiana, a primeira mulher a publicar um livro de poemas em Goiás, era tratada como uma “mucama” intelectual, a “quase da família”, das sociedades vila-boense e goiana de então e de agora. Trata-se de uma educação linguística transformadora, que se trama nas entranhas da própria existência, na travessia entre a letra e a palavra, na emergência do senti(r)do da vida, que dá sentido à vida e significação ao mundo.
Texto escrito pela professora Tânia Ferreira Rezende para o livro Linguagem e interseccionalidade em lutas por direitos
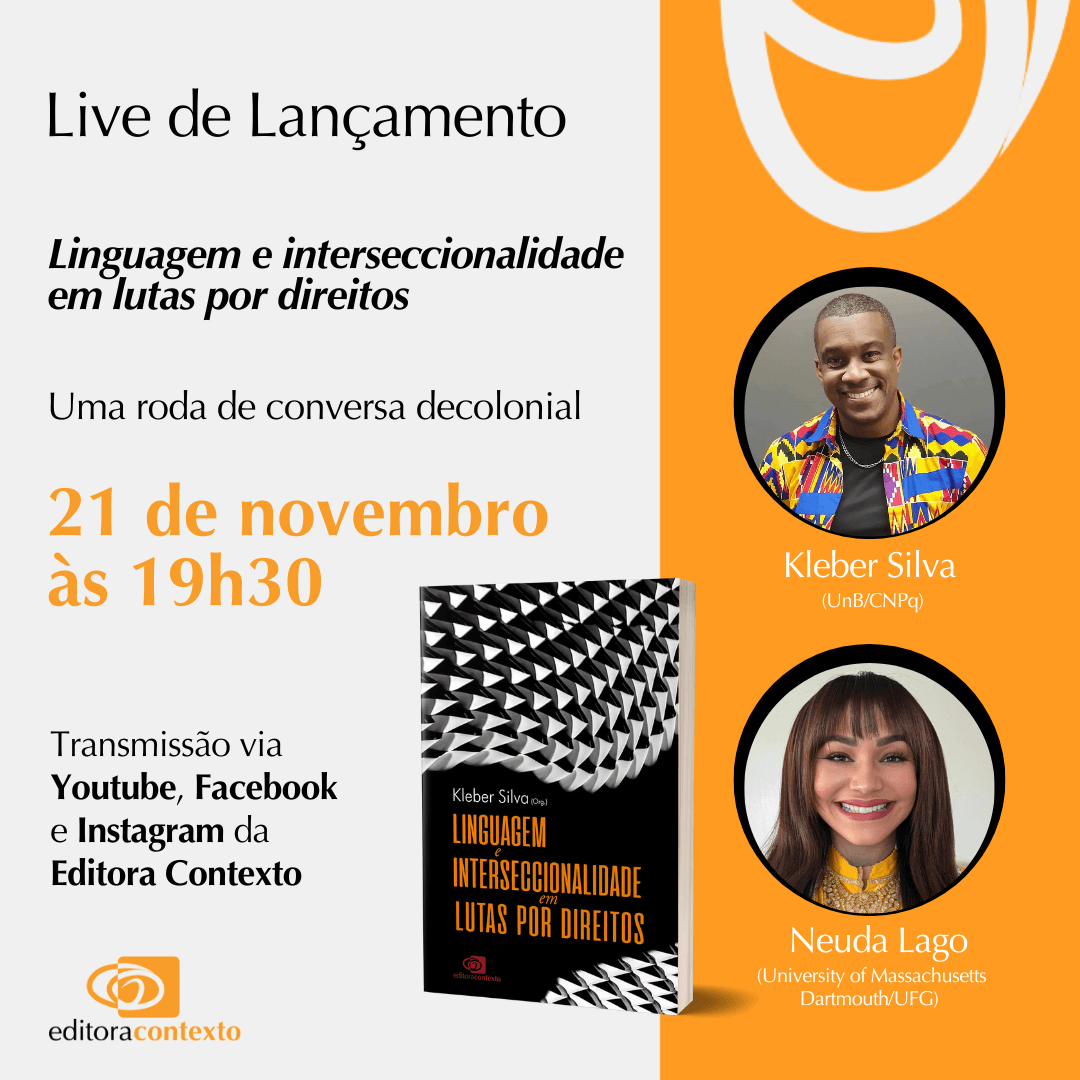
🗓️🎥 Reserve a data: amanhã, quinta-feira (21/11), às 19h30, faremos uma live de lançamento do livro “Linguagem e interseccionalidade em lutas por direitos”, organizado pelo professor Kleber Silva! Assista aqui.
Tânia Ferreira Rezende é professora de Linguística e Língua Portuguesa na Faculdade de Letras da UFG, com atuação na graduação, nos cursos de Letras e de Educação Intercultural de formação superior de professores indígenas; e na pós-graduação, na linha pesquisa Linguagem, Sociedade e Cultura. Doutora em Linguística pela UFMG, desenvolve pesquisas em sociolinguística, história do português brasileiro e letramento intercultural.