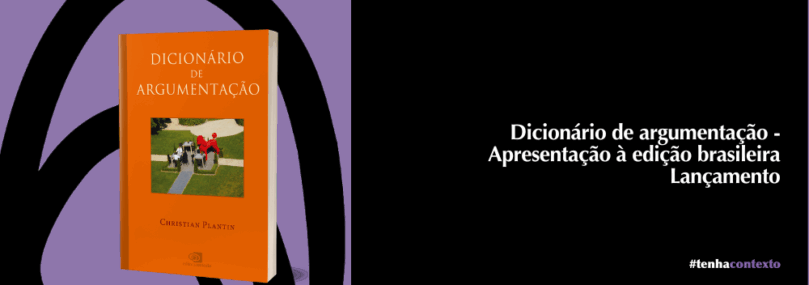Há de tomar o pregador uma só matéria, há de defini-la para que se conheça, há de dividi-la para que se distinga, há de prová-la com a Escritura, há de declará-la com a razão, há de confirmá-la com o exemplo, há de amplificá-la com as causas, com os efeitos, com as circunstâncias, com as conveniências que se hão de seguir, com os inconvenientes que se devem evitar, há de responder às dúvidas, há de satisfazer as dificuldades, há de impugnar e refutar com toda a força da eloquência os argumentos contrários, e depois disto há de colher, há de apertar, há de concluir, há de persuadir, há de acabar. Isto é sermão, isto é pregar, e o que não é isto, é falar de mais alto. Não nego nem quero dizer que o sermão não haja de ter variedade de discursos, mas esses hão de nascer todos da mesma matéria, e continuar e acabar nela. Quereis ver tudo isto com os olhos?
Ora vede. Uma árvore tem raízes, tem troncos, tem ramos, tem folhas, tem varas, tem flores, tem frutos. Assim, há de ser o sermão: há de ter raízes fortes e sólidas, porque há de ser fundado no Evangelho; há de ter um tronco, porque há de ter um só assunto e tratar uma só matéria. Deste tronco hão de nascer diversos ramos, que são diversos discursos, mas nascidos da mesma matéria, e continuados nela. Estes ramos não hão de ser secos, senão cobertos de folhas, porque os discursos hão de ser vestidos e ornados de palavras. Há de ter esta árvore varas, que são a repreensão dos vícios, há de ter flores, que são as sentenças, e por remate de tudo há de ter frutos, que é o fruto e o fim a que se há de ordenar o sermão. De maneira que há de haver frutos, há de haver flores, há de haver varas, há de haver folhas, há de haver ramos, mas tudo nascido e fundado em um só tronco, que é uma só matéria. Se tudo são troncos, não é sermão, é madeira. Se tudo são ramos, não é sermão, são maravalhas. Se tudo são folhas, não é sermão, são verças. Se tudo são varas, não é sermão, é feixe. Se tudo são flores, não é sermão, é ramalhete. Serem tudo frutos não pode ser; porque não há frutos sem árvores. Assim que nesta árvore, a que podemos chamar árvore da vida, há de haver o proveitoso do fruto, o formoso das flores, o rigoroso das varas, o vestido das folhas, o estendido dos ramos, mas tudo isto nascido e formado de um só tronco, e esse não levantado no ar, senão fundado nas raízes do Evangelho: Seminare sémen. (Vieira, I, p. 22-23)
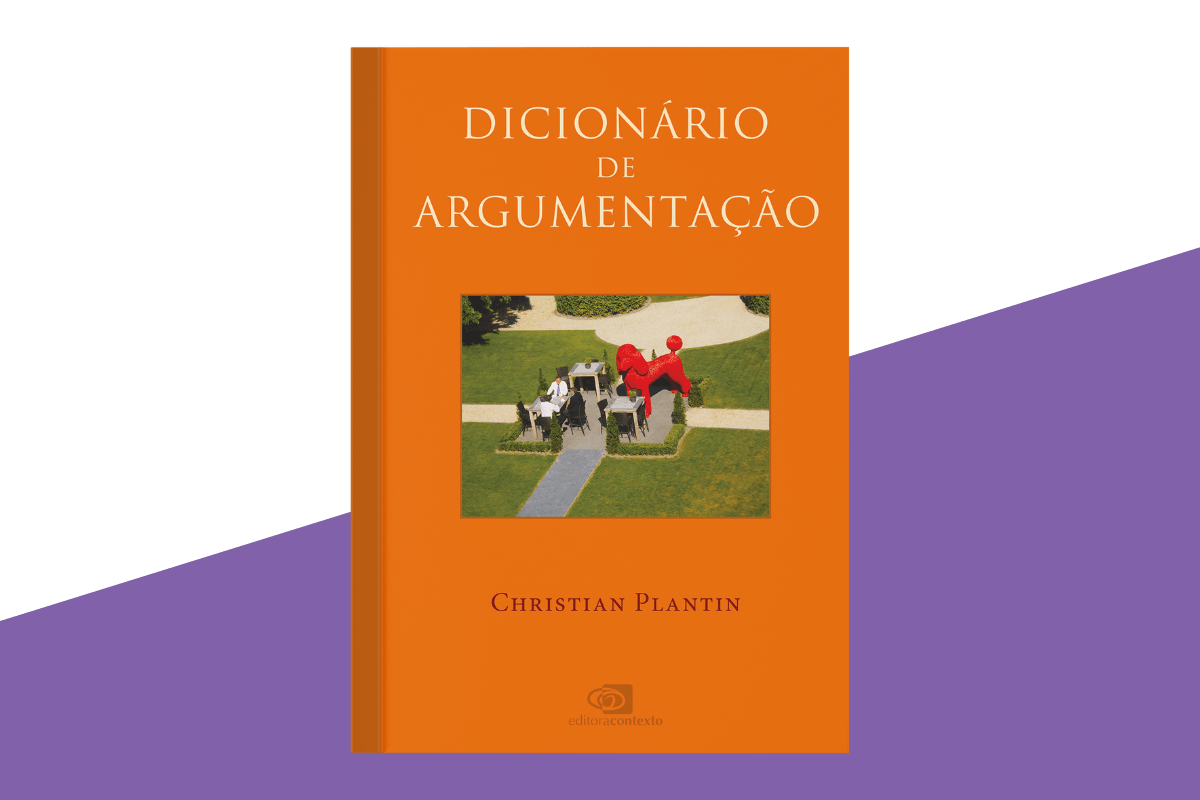
Esse texto faz parte do antológico Sermão da sexagésima, pregado por Antônio Vieira na Capela Real, em 1665. Nele, o missionário fundamenta sua argumentação no predicável … exiit qui seminat seminare (Mat.13: 3), a que acrescenta semen suum (saiu o que semeia a semear sua semente). Desenvolve palavra por palavra, elaborando uma teoria oratória. Nele pretende ensinar como fazer que uma prédica seja eficiente, ou seja, que atinja o objetivo colimado, que é persuadir os homens, levá-los a crer na palavra de Deus e a fazer uma mudança em suas vidas. Nele está, pois, desenvolvida uma teoria da persuasão a serviço da parenética, ou seja, da eloquência sagrada. Vieira analisa as causas de ineficiência dos sermões e mostra como se deve fazer uma boa pregação. Segundo ele, as razões do sucesso ou do insucesso de uma prédica podem estar ligadas a cinco circunstâncias: a pessoa do pregador, sua ciência, a matéria de que trata, o estilo que segue, a voz com que fala. O texto acima é um trecho da parte que trata da matéria.
Esse é o principal texto doutrinário, em língua portuguesa, do método de pregar. É interessante que um texto antolológico do cânone literário brasileiro trate da teoria da argumentação.
Na parte em que discute a matéria do sermão, a proposição de Vieira é que, para que um sermão tenha êxito, é preciso que trate de um só assunto, caso contrário, os ouvintes não poderão entendê-lo dada a confusão que se cria.
No primeiro parágrafo do trecho, Vieira explica como organizar um sermão. Na introdução, o pregador enuncia o assunto, define-o e expõe as partes que o compõem. No desenvolvimento, deve usar os seguintes recursos argumentativos: o argumento de autoridade (“há de prová-la com a Escritura”), o raciocínio baseado em relações fundamentadas na realidade (“há de declará-la com a razão; há de amplificá-la com as causas, com os efeitos, com as circunstâncias, com as conveniências que se hão de seguir, com os inconvenientes que se devem evitar”), o exemplo e a ilustração (“há de confirmá-la com o exemplo”). Além disso, em sua argumentação, deve o pregador antecipar as dúvidas e respondê-las, apontar e discutir as dificuldades para comprovar uma tese e não escamoteá-las, imaginar os argumentos contrários e refutá-los. Na conclusão, há de retomar o que foi dito (“há de colher”), resumir (“há de apertar”) e, enfim, concluir. Aborda em seguida a questão da variedade, mostrando que o que é variado, em um sermão, são as diversas abordagens do mesmo assunto (“variedade de discursos”) e não os assuntos.
No segundo parágrafo, para comprovar essa ideia, argumenta por analogia, comparando a prédica a uma árvore. Só existe árvore se houver raiz, tronco, ramos, folhas, varas, folhas e frutos. Também só existe sermão se partir de um texto dos Evangelhos (raiz), se tratar de uma só matéria (tronco), se abordar as diferentes maneiras como essa matéria pode ser analisada (ramos), se esses modos de abordagem forem veiculados por palavras (folhas), se servir para vergastar os vícios (varas), se for ornado de uma boa organização discursiva (flores), se conseguir atingir uma finalidade (fruto). Se não tiver tudo isso não é sermão, assim como se uma árvore não tiver todos os componentes enunciados não é árvore. O que comanda todos os elementos da prédica é a unidade do assunto, fundado nos Evangelhos, assim como o que sustenta os componentes da árvore é o tronco, assentado nas raízes. Em seguida, Vieira vai enfatizar essa analogia entre a prédica e a árvore, com um paralelismo sintático que associa uma a outra: oração condicional referente a um conjunto de partes da árvore + oração negativa que afirma que esse conjunto não é sermão + oração positiva que diz o que é esse conjunto: por exemplo, “Se tudo são troncos, não é sermão, é madeira”. Conclui essa analogia mostrando as qualidades que deve ter a prédica: o proveito do fruto, a beleza das flores, o rigor das varas, o revestimento das folhas, a extensão dos ramos, mas tudo nascido de um só tronco e este fundado nas raízes do Evangelho. Termina com uma citação da parábola do semeador, que serve, no Sermão da sexagésima, para usar a metáfora de Vieira, de raiz para o tronco: Seminare semen.

Toda a obra de Vieira, que foi professor de retórica no Colégio de Olinda, serve para ilustrar os conceitos apresentados na monumental obra, que vem a lume pela Editora Contexto, Dicionário de argumentação: uma introdução aos estudos da argumentação, de Christian Plantin, professor emérito da Universidade Lumière Lyon II e um dos maiores especialistas em teoria da argumentação.
Na Antiguidade e na Idade Média, o campo dos estudos linguísticos repartia-se em três disciplinas, a Dialética, a Retórica e a Gramática, o trivium dos medievais. A Dialética trata dos enunciados em sua relação com os objetos que supostamente eles representam e, por isso, tem a finalidade de distinguir o verdadeiro do falso. A Retórica estuda os meios de persuasão criados pelo discurso e analisa, nos enunciados, os efeitos que eles podem produzir nos ouvintes. A Gramática é a ciência dos enunciados considerados em si mesmos, ou seja, é o domínio do conhecimento que busca apreender os conteúdos e analisar
os elementos da expressão que os veiculam. Diz Rener que a Retórica era definida como a ars bene dicendi, a Gramática, como a ars recte dicendi, e a Dialética, como a ars uere dicendi (1989, p. 147).
Essas três artes constituem-se progressivamente do fim do século V a.C. (a época dos sofistas) até por volta do século I a.C., quando encontram um ponto de equilíbrio em sua delimitação recíproca. Durante quase dois milênios a Retórica foi uma disciplina que gozava de imenso prestígio. No entanto, no período compreendido entre o século XIX e a primeira metade do século XX, ela entra em declínio.
Bender e Wellbery estudam as condições discursivas que levaram ao declínio da Retórica (1990). Em primeiro lugar, a definição de um ideal de transparência, objetividade e neutralidade do discurso científico com base na concepção de que a linguagem representa a realidade, o que é incompatível com o princípio da antifonia de que a cada discurso corresponde outro discurso, produzido por outro ponto de vista, o que significa que o discurso constrói a maneira como vemos a realidade. Em oposição a essa primeira condição discursiva de declínio da Retórica, surge um ideal paradoxalmente contrário para o discurso literário, o de originalidade, individualidade e subjetividade, o que conflita com a ideia de um estoque de lugares-comuns e de procedimentos à disposição do escritor. Em terceiro lugar, ocorre a ascensão do liberalismo como modelo do discurso político, que pretende que as escolhas dos agentes políticos são pautadas pela racionalidade, o que é inconciliável com o ideal de persuasão que está na base da Retórica. Em quarto, o modelo de comunicação oral é substituído por um modelo de comunicação escrita, o que deixa em segundo plano a eloquência que serviu de ponto de partida para a criação da Retórica. Finalmente, com a emergência dos Estados-nação e com o papel que adquirem as línguas nacionais dentro desse novo quadro, o latim deixa de ser a referência cultural. O positivismo científico e a estética romântica foram os paradigmas discursivos que não admitiam mais o papel exercido pela Retórica por mais de dois milênios.
Na segunda metade do século XX, novas condições discursivas alteram, conforme Bender e Wellbery (1990), as premissas culturais hostis à Retórica e assiste-se, então, a seu renascimento. Em primeiro lugar, o século XX liquidou o ideal de objetividade e neutralidade científica do positivismo. Muitos teóricos (por exemplo, Heisenberg e Gödel) mostram que os dados de observação não são neutros. Por outro lado, começa-se a verificar, conforme modelo difundido por Thomas Kuhn, que as ciências são construções dentro de determinados paradigmas. Em segundo lugar, a arte moderna solapa a noção de subjetividade fundadora da estética romântica. Com o surrealismo e, mais ainda, o dadaísmo, a experiência estética é vista como um jogo de forças inconscientes e linguísticas em relação a que o sujeito está descentrado. O ideal de originalidade é relativizado. Em terceiro lugar, o modelo de comunicação política é encarnado na publicidade, no marketing, nas relações públicas, em que a racionalidade dos agentes não é mais um axioma. O que se pretende é persuadir, isto é, convencer ou comover, ambos meios igualmente válidos de conduzir à admissão de determinada ideia. Com o advento das novas mídias, o modelo de comunicação escrita sofre um abalo, pois, como mostrou McLuhan (1969), há uma relação profunda entre a nova cultura da imagem e a cultura oral pré-clássica. Finalmente, revalorizam-se o poliglotismo, os dialetos, os jargões. É no bojo dessas condições discursivas que se produz uma mudança na Linguística que possibilita sua aproximação com a Retórica.
Há, asssim, um redimensionamento da teoria da argumentação, com a introdução de novas noções e o estabelecimento de novas perspectivas. A obra de Plantin integra os clássicos (Aristóteles, Cícero e Quintiliano) aos debates contemporâneos e também apresenta as noções criadas pela teorias atuais.
Todo discurso é de natureza argumentativa, pois todas as manifestações linguísticas, desde a fala cotidiana até as grandes obras literárias, têm uma organização antifônica, já que apresentam um ponto de vista a favor de uma tese, que se liga a outro contrário a ela, que admite uma réplica, e assim sucessivamente. A argumentação é também o exercício da função crítica da linguagem. Plantin não apresenta, em seu Dicionário, uma abordagem filosófica ou histórica dos conceitos que se dispõem em verbetes, mas busca dar a eles um
valor operacional. Isso significa que os verbetes expõem práticas discursivas utilizadas pelos falantes em sua atividade linguística. Isso mostra a incomensurável utilidade desse dicionário, que serve a todos os que se interessam pela prática da argumentação. Afinal, todos os que têm interesse pelo antagonismo discursivo, principalmente nestes tempos de forte polarização social, têm necessidade de conhecer o discurso sobre a argumentação, para melhor desempenhar sua atividade argumentativa. Assim, esse dicionário apresenta-se como um legítimo herdeiro da arte retórica. A Retórica é chamada arte (do latim ars, que traduz o grego techné), porque é um conjunto de habilidades (é uma técnica, entendiam os antigos) que visa tornar o discurso eficaz, ou seja, capaz de persuadir. Assim, a argumentação pode ser aperfeiçoada e é esse o grande objetivo desse dicionário: ajudar-nos a tornar nosso discurso cada vez mais eficaz, definindo rigorosamente os termos que constituem o vocabulário do campo da argumentação, exemplificando, com textos escritos ou orais, cada prática argumentativa. Dessa forma, sem perder em nenhum momento o rigor teórico, essa obra tem uma finalidade didática, que era o objetivo último de todas as obras retóricas dos autores clássicos: ensinar a argumentar.
Cada verbete apresenta remissões. Assim, essa obra convida para mais de um percurso de leitura: pode-se lê-la alfabeticamente, para conhecer um dado conceito; mas também se pode ler um verbete e suas remissões, para entender um conjunto de imbricações conceituais.
Cabe lembrar ainda que apresentar um campo do conhecimento sob a forma de dicionário revela uma visão muito atual do saber: a ciência nunca está acabada; ela possibilita sempre exclusões, alterações, acréscimos, o que uma exposição não alfabética não permite com facilidade. Essa obra recusa uma concepção religiosa da ciência, muito presente em nossas universidades, que pretende que uma teoria seja considerada “a” verdade. Christian Plantin tem uma concepção, diríamos utilizando um pleonasmo, científica da ciência: ela é sempre uma organização provisória, sempre sujeita a mudanças.
Cabe fazer uma referência ao gigantesco trabalho de tradução de uma equipe coordenada por Rubens Damasceno-Morais e Eduardo Lopes Piris.
Por tudo o que se disse, nota-se que esse livro é magnífico, em sua completude, em sua operacionalidade, em sua clareza, em sua importância, em seu rigor… É um convite a uma aventura intelectual que nos deixará munidos para viver este tempo de fortes antagonismos e participar ativamente dele.
Na capital paulista, num dia escaldante do verão de 2025.
José Luiz Fiorin (USP)