Em janeiro de 2025, o Congresso Nacional aprovou a Lei n.15.100/2025, que proíbe o uso de dispositivos eletrônicos nas escolas. O assunto era antigo, amargou quase 20 anos de gaveta, uma vez que a primeira proposta nesse sentido foi feita em 2007. Em março de 2025 a medida começou a ser implementada nas escolas. Não houve oposição; apenas se pediu que a medida fosse acompanhada de educação midiática, pois de pouco adiantaria somente proibir.
É só o começo, mas faz muitos anos que os professores pedem por isso. Essa lei pode ser um passo para a retomada do controle da sala de aula, para a sinalização de que estamos fazendo algo sobre a epidemia de ansiedade, depressão e distrações com que as crianças e adolescentes vivem. Há mais para se fazer, além da educação digital e do uso consciente das tecnologias. Temos que admitir que mal sabemos o que é uma tecnologia e que perdemos de vista a noção do que é, afinal, uma escola.
Sofremos hoje de nomofobia. A palavra foi criada no Reino Unido, em 2008, e consta no art. 4o da Lei n. 15.100/2025, e foi incorporada no Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (Volp) três semanas depois da publicação do texto legal. Tudo é muito novo. A Lei n. 15.100/2025 manda que as escolas criem espaços de escuta para quem sofre dessa nova condição, o pânico de ficar desconectado: no mobile phone phobia.
As mudanças que vemos nas crianças, provocadas pelo uso das mídias baseadas em telas e algoritmos que raptam a atenção, começaram na década de 1950 e ninguém sabe onde vão parar. O que está acontecendo não se resume a uma epidemia de ansiedade e depressão ligada ao mundo das novas tecnologias. O predomínio de experiências audiovisuais repetitivas sobre as vivências linguístico-conceituais criou padrões perversos de socialização, atenção e leitura. A infância está desaparecendo, em meio a uma degradação espiritual e cognitiva. As crianças usam as mesmas redes sociais dos adultos e são usadas por estas. Elas têm menos tempo para ser crianças. Precisamos compreender melhor o que está acontecendo.
Neste livro proponho uma conversa sobre a escola como um lugar onde a formação espiritual convive com a tecnologia. Quero mostrar ao leitor que há espaço para ambas na escola, pois há uma compreensão da tecnologia que não necessariamente briga com a espiritualidade.
A restrição sobre o uso dos dispositivos eletrônicos nas escolas está sendo bem recebida. Há quem diga que tal medida é uma intromissão do Estado em uma área de decisões que cabem à família, que há uma reação alarmista baseada em evidências discutíveis ou, ainda, que a Lei n. 15.100/2025 criou uma atribuição a mais para os professores, já sobrecarregados. No geral, predomina algum otimismo. Quando tal lei foi aprovada, escutei o comentário, em tom de lamento, de um colega da minha universidade: “Bem que essa lei poderia ter incluído as universidades!” O problema não é só das crianças e dos adolescentes. O problema é de todos nós.
As crianças que nasceram a partir de janeiro de 2025 são os Beta. Essa geração nasce com seus pais e cuidadores bombardeados pelos avisos de cautela sobre o uso excessivo de telas. Esse pode ser um ano importante no calendário das advertências que foram feitas sobre os efeitos colaterais indesejáveis desse “admirável mundo novo”. Os primeiros sinais de alerta foram disparados em 1995. Precisou-se de 30 anos para surgir um consenso sobre a necessidade de medidas de contenção no uso das maravilhas da internet.
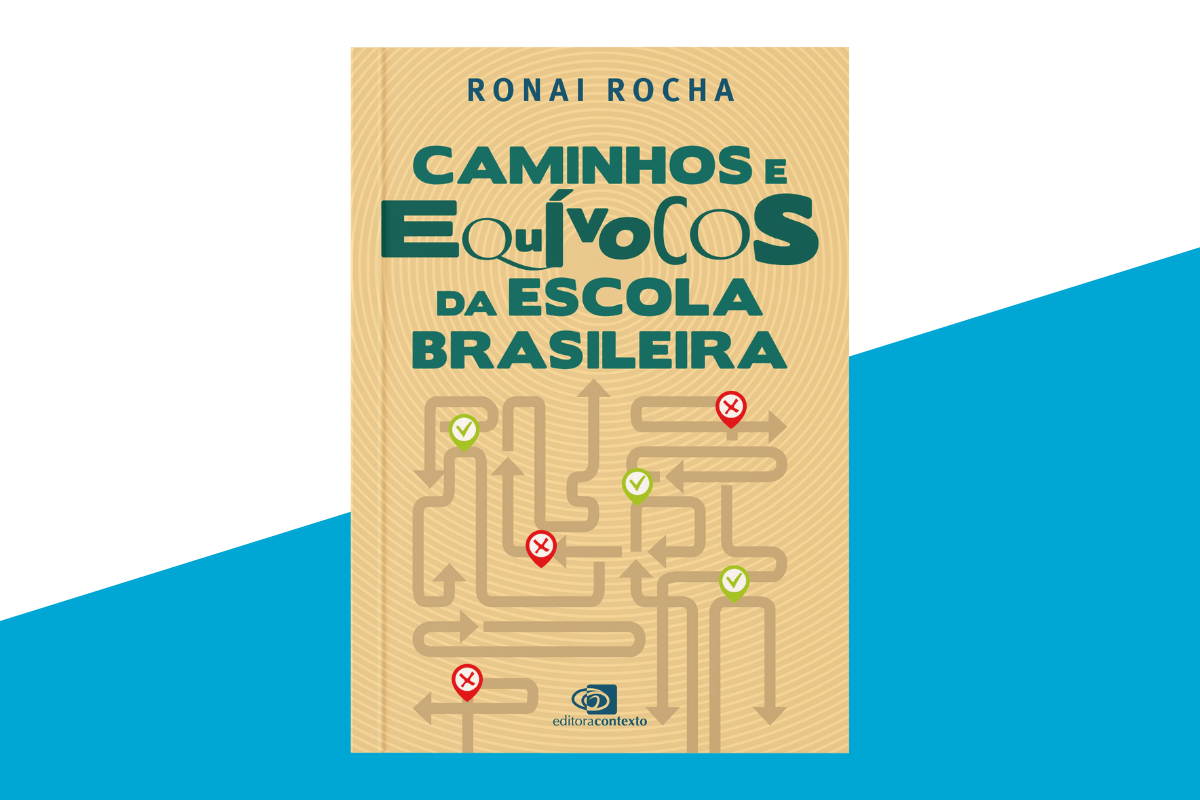
Este livro tem alguns pontos de partida.
Em 2024, alguns sindicatos de professores me convidaram para falar sobre os temas de um dos meus livros, Escola partida: ética e política na sala de aula, publicado pela Editora Contexto, em 2020. O Sindicato dos Professores do Ensino Privado (Sinpro/RS), em Porto Alegre, uma associação forte e organizada que reúne professores de instituições particulares de ensino, me convidou para palestrar sobre o tema “liberdade de ensinar”, e o contexto era as pressões de natureza ideológica que muitos professores sentem em sala de aula nos dias de hoje. Algum tempo depois, fui procurado pelo Sindicato dos Professores Municipais de Passo Fundo (CMP Sindicato), também no Rio Grande do Sul. Eles estavam interessados no mesmo tema, mas com motivações ligeiramente diferentes, uma vez que queriam incluir no debate a crescente subtração da autonomia administrativa e pedagógica na escola. As prefeituras estão comprando pacotes didático-pedagógicos, com os quais o professor é levado a adotar planejamentos, plataformas e apostilamentos cada vez mais minuciosos, que fazem dele um repassador de procedimentos; seu dia de trabalho inclui cada vez mais horas de preenchimento de aplicativos e plataformas de ensino, em uma nova modalidade de franchising escolar, no qual tudo vem pronto, incluindo as avaliações.
Mais recentemente, as escolas públicas começaram a ser rondadas por projetos de terceirização administrativa que, não raramente, invadem a dimensão pedagógica e trabalhista. O número de escolas cívico-militares aumenta a cada ano. Há uma crise na identidade escolar e na docência, da qual as autoridades educacionais se aproveitam para implementar políticas educacionais com baixa participação local. As escolas são objeto de projetos e ações, por vezes, fracamente conectadas com a realidade local. Como as notas das provas nacionais são usadas na época das campanhas eleitorais, as notas da cidade nos rankings nacionais de avaliação são aguardadas com ansiedade, e, portanto, as escolas são pressionadas.
As interferências administrativas e pedagógicas na escola não param por aí. Há uma crescente vigilância do currículo e das aulas pelas mais diversas organizações e entidades. Não é por acaso que os professores, os pais e os gestores se voltam para assuntos como a liberdade e o direito de ensinar, a centralização dos currículos e a pressão dos rankings de avaliação. Se nos sindicatos há queixas sobre a falta de autonomia, de voz e de vez na escola, na contramão disso há pais e gestores que reclamam do excesso de liberdade pedagógica. Como essas queixas devem ser escutadas, compreendidas?
A pedagogia brasileira é assediada por conservadores e progressistas. Além das queixas dos professores e dos sindicatos, há pressões sobre a escola, os professores e o currículo, que precisamos compreender melhor. A ideia de uma opressão da escola pelos dois lados tradicionais do espectro político-ideológico pode parecer sem sentido. Os sindicatos, muitas vezes situados no campo progressista, tendem a denunciar as iniciativas de movimentos como o “Escola sem Partido” e as políticas de avaliação e currículo, como o IDEB e a Base Nacional Curricular. Em que consistiria a pressão sobre a escola a partir do campo progressista? Vou tratar desse tema no segundo capítulo.
No meio dessas questões complicadas, surgiu a questão dos usos e abusos do telefone celular. Na segunda metade de 2024, as pressões para a interdição de uso de celulares pelos estudantes se avolumaram. No dia 13 de janeiro de 2025, foi promulgada a Lei n. 15.100/2025. Ficamos diante de uma situação intrigante. Uma das bandeiras do movimento conhecido como Escola sem Partido é o direito de o estudante filmar o professor, para documentar o que lhe parece irregular. De uma hora para outra, formou-se o consenso para banir os celulares da sala de aula. Diante dos efeitos de brutalização psíquica atribuída ao uso viciante de dispositivos eletrônicos e da impotência dos pais e professores, sozinhos, para controlar isso, foi preciso esquecer a querela da vigilância dos professores mediante filmagem. Na hora do desespero, a escola foi lembrada.
Vivemos, como disse, algumas situações intrigantes, paradoxais. Há um consenso inafastável sobre a necessidade de melhoria na qualidade do ensino, e isso nos leva a um sistema de avaliações orientadoras e a um planejamento pedagógico ancorado em uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e em testes padronizados. Essas situações trazem consigo perdas na autonomia docente. Quanto elas são aceitáveis? O aumento das expectativas populares sobre a escola traz junto o consenso sobre a necessidade de melhorias nela, e isso inclui avaliações e indicadores externos. É claro que temos o direito e a obrigação de nos perguntar se a BNCC é realmente básica, comum e nacional. É evidente que temos a obrigação de melhorá-la sempre e quando é necessário, seja para torná-la mais ampla ou mais detalhada. Mas não é possível voltar atrás e sonhar com o fim de algum sistema curricular nacional. A mesma conclusão vale para a política de avaliação das escolas por meio dos testes padronizados. Um sistema escolar que não é avaliado é uma contradição, em termos. Essas situações, esse quebra-cabeças de transformações e novas tecnologias, devem ser compatíveis com a preservação, como figura central, de alguma autonomia da escola, do professor e dos estudantes.
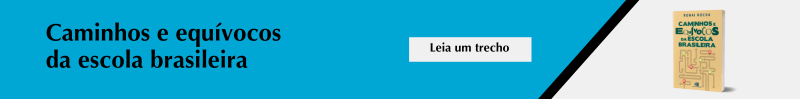
Uma escola do interior de um pequeno município do interior pode não ter telas de televisão conectadas em rede, mas faz uso de apostilas fornecidas por alguma edtech. A utilização de materiais instrucionais desse tipo começou no ensino privado, mas está acontecendo também nas redes municipais de ensino. Trata-se de um mercado milionário que somente cresce. A reação dos sindicatos de professores a isso é ambígua. A adoção de apostilas é vista por alguns como uma restrição brutal na autonomia didático-pedagógica. Os conteúdos e as metodologias estão ali prontos, juntamente às avaliações; a criatividade docente cabe apenas nos espaços em branco da apostila. Por outro lado, os professores são confrontados com o cumprimento dos itens do alfanumérico, a lista de conhecimentos, habilidades e competências previstas para cada disciplina na BNCC. O alfanumérico dá trabalho, e, diante das muitas horas dele, a apostila alivia essa função. Há professores que não se queixam delas. E, apesar de tudo isso, a escola se move. A discussão sobre internet, celulares, redes sociais e desenvolvimento adolescente pode ser uma oportunidade de aprofundamento de conversas sobre esses temas, nas quais podemos renovar a nossa compreensão sobre a interação entre professores e alunos, as finalidades últimas da escola, seu sentido como um espaço e um tempo de formação humana, bem como as relações internas entre as rotinas escolares e o espírito. A escola foi banalizada, à esquerda e à direita. Ela corre o risco de fazer parte da degradação espiritual das vidas baseadas no celular, mas isso não é inevitável. A escola é uma tecnologia espiritual, isto é, ela é formadora do espírito. Isso nos obriga a pensar melhor sobre as coisas que esquecemos sobre ela.
Ronai Rocha é doutor em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Foi professor na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Desde o início de sua vida profissional, pesquisa temas ligados à educação. Pela Contexto é autor dos livros Quando ninguém educa: questionando Paulo Freire, Escola partida: ética e política na sala de aula, Filosofia da educação e Caminhos e equívocos da escola brasileira.

