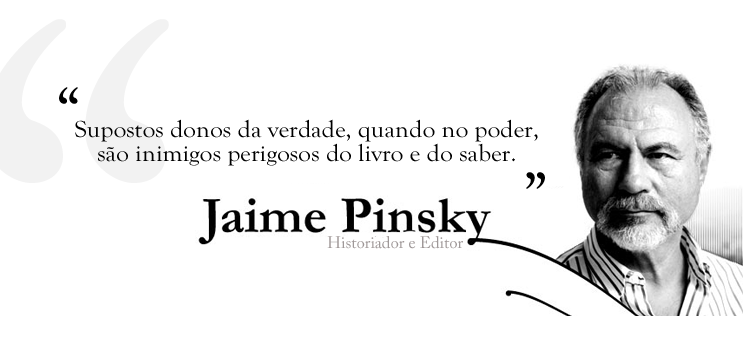Historiadores, arqueólogos e linguistas têm muita dificuldade em datar alguns dos mais importantes eventos da história humana. Não sabemos exatamente quando foi que substituímos nossos grunhidos por fala mais ou menos articulada (sim, eu sei, tem gente que ainda não deu esse passo civilizatório, mas vamos deixar isso de lado, por favor). Quando e como foi que criamos as línguas, tantas línguas diferentes, todas elas formas criativas de descrever o mundo, nos aproximar do próximo, expressar emoções, criar coisas belas? E por falar em beleza, e a música, como e quando foi que adquirimos e desenvolvemos a habilidade de emitir sons harmônicos, de traduzir o ritmo da caminhada em harmonia, de imitar pássaros e fenômenos naturais, de pensar e sentir essa coisa indescritível chamada música?
Ainda vai demorar muito até que consigamos colocar datas para esses movimentos civilizatórios essenciais, se é que um dia chegaremos a isso. Por outro lado temos uma ideia bastante precisa de outra conquista fundamental, sem a qual a palavra “civilização” perderia muito o sentido: o surgimento da escrita e seu aperfeiçoamento. Sim, é verdade que antes de encontrar símbolos para representarem as palavras, os antigos criaram a representação das quantidades, dos objetos, dos volumes e dos espaços. Os especialistas têm motivos para acreditar que os números precederam as letras. Os diferentes tipos de escrita surgiram para quantificar propriedades e intercâmbios. Não se prestavam para descrever o que as pessoas tinham, mas para atribuir valores às coisas. Esse processo, desenvolvido nos agrupamentos urbanos maiores, não em simples aldeias, permitia a realização dos negócios. De fato, não se trocava (em qualquer época) trigo por ovelhas, mas determinado número de animais eram trocados por um volume determinado de cereal. Os operadores da troca perceberam que ficava bem mais fácil registrar as quantidades. Em resumo, os números surgem por serem necessários, não para as pessoas completarem seu sudoko.
As representações referentes às palavras vieram depois e evoluíram, lentamente, de simples pictografias para ideogramas e só bem mais tarde para letras. Estas atingiram sua versão mais sofisticada entre os fenícios (e provavelmente entre os hebreus, seus vizinhos), povos que viviam naquele pequeno território hoje correspondente ao Líbano e Israel. Comerciantes ativos os fenícios assimilaram informações de diferentes culturas da região e passaram a utilizar um alfabeto próximo daquele em que vários livros do Antigo Testamento foram escritos. Lá pelo ano 700 a.C. atividades comerciais aproximaram gregos e fenícios e, logo depois, apareceu a tradução do alfabeto fenício para a língua grega, com Aleph, Beth, Guimel virando Alpha, Beta e Gama, por exemplo…
A historiadora e (ótima) escritora Isabel Vallejo costuma lembrar que, se os números facilitaram os negócios, as letras estabeleceram versões das histórias antes narradas por milhares de poetas populares com milhares de versões, uma vez que nenhum ser humano decora, literalmente, longas aventuras sem acrescentar sua visão de mundo. Aos poucos, as histórias passaram a ser lidas, em vez de decoradas e contadas com as inevitáveis interpretações. A possibilidade de uma história ser copiada e difundida em rolos de papiro ou pergaminhos vai garantir maior fidelidade ao original, mas não impedir a criatividade. Afinal, todos conhecemos atentados ou “correções” feitas por copistas. Até hoje em dia…
Papirus da região de Alexandria e pergaminhos produzidos com couro de animais, colados em pedaços e depois enrolados em torno de dois eixos de madeira permitiram que o saber e a ficção circulassem e bibliotecas fantásticas, como a de Alexandria, no Egito, se tornassem centros de ensino, de pesquisa, de saber.

A Grande Biblioteca de Alexandria tinha um objetivo explicito: conter e divulgar todo o saber produzido até então. Os Ptolomeus, seguidores de Alexandre, liberaram fortunas para que todo e qualquer livro escrito até aquele momento fosse buscado em qualquer lugar do mundo para fazer parte do acervo da biblioteca. Com o objetivo de difundir o saber foram contratados bibliotecários que desenvolveram técnicas originais e organizaram o material de forma que os consulentes pudessem encontrar o que procuravam. A preocupação não era apenas a de ostentar o saber (como entrevistados que exibem lindas bibliotecas, com livros intocados), mas fazê-lo circular. Pena que alguns séculos depois a intolerância religiosa dos imperadores romanos cristãos levou a Grande Biblioteca ao seu final, com a queima e destruição dos livros. Supostos donos da verdade, quando no poder, são inimigos perigosos do livro e do saber.
Jaime Pinsky é historiador e editor. Completou sua pós-graduação na USP, onde também obteve os títulos de doutor e livre-docente. Foi professor na Unesp, na própria USP e na Unicamp, onde foi efetivado como professor adjunto e professor titular. Participa de congressos, profere palestras e desenvolve cursos. Atuou nos EUA, no México, em Porto Rico, em Cuba, na França, em Israel, e nas principais instituições universitárias brasileiras, do Acre ao Rio Grande do Sul. Criou e dirigiu as revistas de Ciências Sociais, Debate & Crítica e Contexto. Escreve regularmente no Correio Braziliense e, eventualmente, em outros jornais e revistas.