Falar em “marginalidade” no âmbito das Análises do Discurso (principalmente as vertentes que se intitulam críticas) remete primeiramente a questões sociais de grupos excluídos. Esta coletânea não se concentra nesse tipo de discussão, mas toma o próprio campo de investigação como um universo em que algumas zonas (conceitos e corpora) são colocadas à margem, ignoradas ou desconhecidas.
Os textos que compõem este livro foram publicados em francês pelo autor em diversas revistas virtuais de Linguística e Análise do Discurso (AD), excetuando-se dois deles: o capítulo de livro “As duas restrições da polêmica”, publicado em espanhol, e o artigo em inglês “Ampliando o campo da Análise do Discurso”. Traduzidos, estudados e discutidos por membros do grupo de pesquisa Discurso, Cotidiano e Práticas Culturais (Grupo Discuta), da Universidade Federal do Ceará, seu enfeixamento em um livro surge da confluência de dois fatores: enquanto as problemáticas de nossas pesquisas deparavam-se com “lacunas” e mobilizavam e adaptavam alguns conceitos de Dominique Maingueneau pouco discutidos encontrávamos também textos do autor em línguas estrangeiras que lançavam luz sobre os temas.
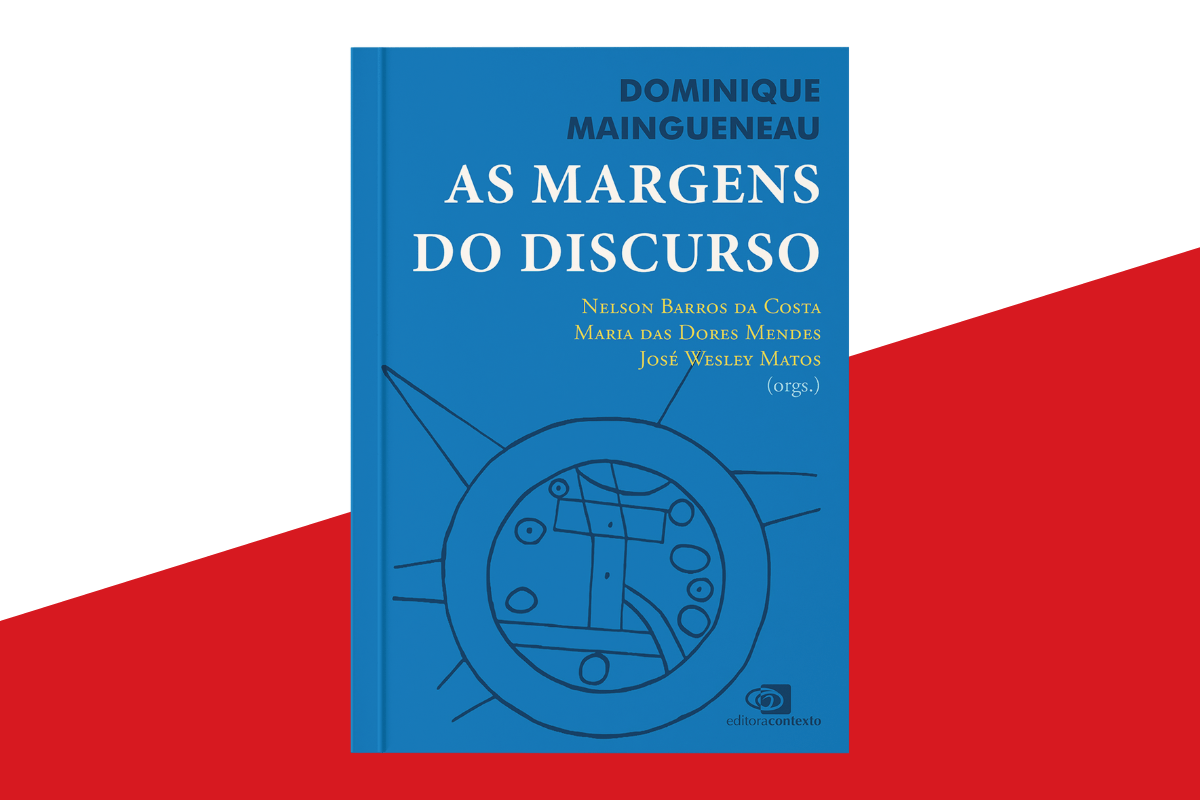
Durante os ciclos de debate do grupo, notamos que essas ausências revelam-se sintomáticas de certa tendência canônica de recepção acerca da abordagem enunciativo-discursiva de Maingueneau: a de privilegiar e fazer repercutir os conceitos supostamente mais amplos, aqueles que serviriam para todos os enunciados. O próprio autor constantemente alerta para o “risco”, decorrente da institucionalização da AD, de tentar ajustar os objetos aos preceitos teóricos. É para mostrar a readequação das ferramentas que Maingueneau desenvolve as análises desses capítulos, como respostas condizentes a novas problemáticas. Desse modo, essa coletânea permite observar um procedimento singular do autor que, ao invés de consolidar certa percepção teórica cristalizando um modelo, diversifica-o com novas ferramentas para melhor compreender o discurso em atividade, o que reorganiza toda a perspectiva.
No primeiro capítulo, “Ampliando o campo da Análise do Discurso”, compomos, a partir de dois artigos, um texto panorâmico em que Maingueneau mapeia algumas questões por ele já trabalhadas e outras ainda incipientes (algumas das quais exploradas nos capítulos seguintes) que demonstram sua tese de que o universo do discurso não é homogêneo. No segundo capítulo, “Enunciação e Análise do Discurso”, o autor caracteriza o papel da noção de enunciação nas tendências fundadoras da Análise do Discurso, vínculo fundamental que impacta a sua própria perspectiva.
O capítulo “As duas restrições da polêmica” propõe duas abordagens complementares para a noção de polêmica. A primeira como sendo uma dimensão constitutiva da discursividade e a segunda, de ordem pragmática, que parece se relacionar com a noção de registro polêmico; diferentemente da primeira, esta última tem ainda pouca repercussão e, neste capítulo, é desenvolvida pelo autor.
O capítulo “O ethos discursivo e o desafio da web”, por sua vez, discute a aplicação à web de um conceito já abordado pelo autor em outros trabalhos, o de ethos discursivo, procurando mostrar a necessidade de sua readequação a esse ambiente entendido como outro regime de enunciação.
Os capítulos “O discurso jurídico como discurso constituinte” e “Encontrar o seu lugar no ambiente filosófico” se dedicam à análise de tipos de discurso paradoxalmente fundantes da nossa sociedade e, ao mesmo tempo, pouco analisados. Enquanto, no discurso filosófico, Maingueneau detalha o desempenho dos papéis dos sujeitos (pensadores, mediadores e gestores) no funcionamento do campo, no discurso jurídico, ele defende uma análise centrada no aspecto de seu pertencimento aos discursos constituintes (por meio da paratopia, do Thesaurus e do código de linguagem), mas sem percebê-lo como um campo.
Os capítulos “Fazer ouvir os sem-voz” e “Uma fratura discursiva preocupante” demonstram os esforços do autor para compreender discursivamente novos fenômenos vistos, de modo geral, como de ordem puramente social. Seja para entender as relações entre porta-vozes e sem-voz ou entre locutores morais e locutores populares, Maingueneau assume a necessidade de novos aparatos interpretativos que deem conta dos fenômenos (o apelo à piedade e à fratura discursiva) e que reconheçam as especificidades e as mudanças das relações entre sujeitos e lugares historicamente situados.
Nos capítulos “Os multilocutores” e “Slogans e candidatos em cartazes”, o autor lança mão de algumas de suas propostas mais recentes e ousadas (a multilocução, as aforizações e os enunciados aderentes), mas que, também por isso, podem causar certa relutância aos analistas do discurso ao desestabilizarem certos pressupostos teóricos já assentados, principalmente acerca da interação comunicativa e da noção de gênero discursivo.
Do ponto de vista teórico, o motor que move esta coletânea é o mesmo que parece animar e inquietar Maingueneau há alguns anos; ele se mostra como plano de fundo em todos esses trabalhos e é especialmente manifestado no primeiro capítulo: a heterogeneidade dos regimes do discurso. Os contornos da imago mundi que ilustra a capa deste livro é uma representação alegórica desse desejo de (re)conhecer, de mapear, que possibilita abstrair, mas que também institui um centro da percepção e relega outros territórios às periferias do olhar. Considera-se que seja o mais antigo registro de uma representação geográfica ampla, um tipo de mapa do reino babilônico e adjacências segundo a perspectiva técnica e cultural desse povo, o “primeiro” mapa-múndi. Julgamos esse desenho representativo também, para esta coletânea, por ser (possivelmente, segundo as investigações historiográficas) o imaginário de um mundo conhecido às margens de um rio, com um império dominante no centro. Desse modo, considerar essa multiformidade das manifestações também do ponto de vista metodológico é assumir um risco de instabilidade, mas que, como se demonstra nas análises, pode render discussões profícuas, redefinindo rotas e esboçando outra cartografia desse universo.

Dando acesso aos textos em nossa língua brasileira, para além de auxiliar na divulgação especializada dos desenvolvimentos teóricos de Maingueneau, esperamos chamar a atenção para objetos e conceitos pouco trabalhados pela AD e, em conformidade com o autor, conclamar seus aprofundamentos e refinamentos necessários. Se os analistas do discurso aderirem às ideias do teórico aqui apresentadas, talvez a noção de discursividade venha a corresponder em maior proporção às manifestações em sua concretude experienciada. Ainda que inalcançável, quem sabe, nesse rio vivo do discurso, comecemos a vislumbrar, no horizonte sempre distante, os contornos do que ainda não conhecemos, como se fosse aquela imagem quimérica de uma “terceira margem” fantasiada por Guimarães Rosa.
Os organizadores
Nelson Barros da Costa é professor titular do Departamento de Letras Vernáculas da Universidade Federal do Ceará (UFC). Doutor em Linguística Aplicada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), fundador e vice-líder do grupo de pesquisa Discurso, Cotidiano e Práticas Culturais – Grupo Discuta.
Maria das Dores Mendes é professora adjunta do Departamento de Letras Vernáculas e do Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal do Ceará (UFC). Doutora e mestra em Linguística por essa mesma universidade, é líder do grupo de pesquisa Discurso, Cotidiano e Práticas Culturais – Grupo Discuta.
José Wesley Matos é doutorando em Estudos Linguísticos pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Mestre em Linguística pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é membro do grupo de pesquisa Discurso, Cotidiano e Práticas Culturais (Grupo Discuta) e do Núcleo de Estudos em Análise do Discurso e Ethos – NEADE (UNIR/ UFMT).

