Cheguei a Israel no dia seguinte ao 7 de Outubro.
No aeroporto Ben Gurion, os alarmes soavam num ritmo permanente.
Gélidas apesar do calor do verão tardio, Tel Aviv e Jerusalém pareciam cidades mortas.
Quase todos os moradores de Sderot, cidade muitas vezes mártir, na fronteira de Gaza, tinham-na abandonado.
Eu conhecia a cidade. Nos últimos 20 anos, sempre tento ir lá em cada uma de minhas viagens.
E, nas duas guerras anteriores de Gaza, em 2009 e 2014, quando se ficava 24 horas por dia nos abrigos por causa dos foguetes, eu ficara lá por um tempo para fazer reportagens.
No entanto, nunca a vira neste estado de desolação. Nunca teria imaginado encontrar, na entrada da cidade, no meio da estrada Menachem Begin, vazia, os despojos de um jihadista abatido e coberto por uma lona azul que deixava à mostra suas pernas enegrecidas, cobertas de formigas, apodrecendo num raio de sol.
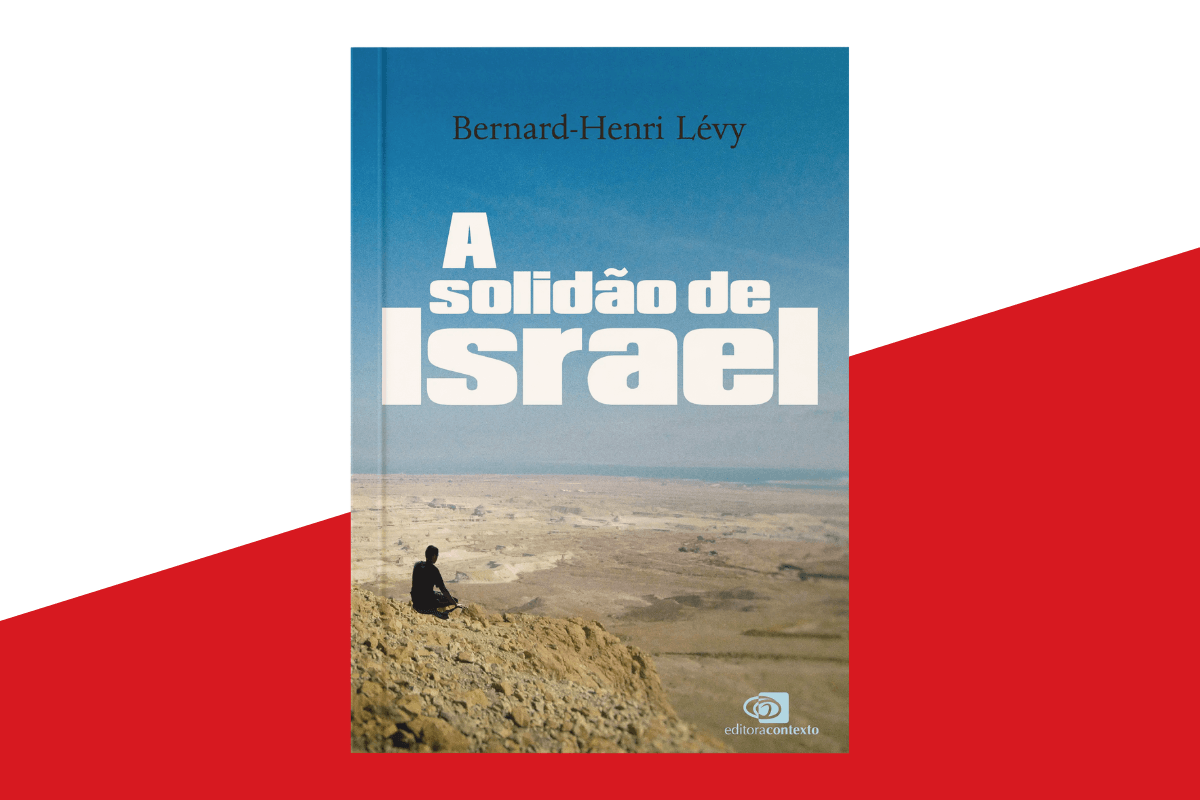
Tampouco teria imaginado me ver cara a cara, diante dos escombros da delegacia de polícia incendiada, com o jornalista do periódico Haaretz e virulento crítico de Israel Gideon Levy, meu homônimo – tenho muitos homônimos e tive a ocasião de refletir com alguns deles sobre a ironia de um espírito do judaísmo que lança nos mesmos nomes os destinos judaicos mais desiguais –, mas esse Lévy… me surpreendi apertando sua mão e comungando de um estupor que, de repente, deixava para trás o que pensávamos antes… Estarmos juntos diante de uma assembleia que reunia bombeiros, policiais, soldados das Forças Armadas de Israel, conhecidas como Tsahal, que haviam chegado de manhã, ou reservistas que tinham vindo espontaneamente, mais cedo, porque um parente, um amigo, um colega de regimento os chamara de um abrigo para dizer, num sopro, o que foi para muitos as últimas palavras: “Os lobos entraram na cidade; nós os pressentimos, os ouvimos; estão no jardim, na sala, no quarto das crianças; estão tentando, aqui, neste instante, forçar a fechadura enquanto fico imóvel…”
Foi pior ainda nos kibutzim.
Estes eu conhecia há muito tempo. Sabia que eram o bastião deste sionismo laico, liberal, pacifista, que foi, desde 1967 e a Guerra dos Seis Dias, meu primeiro vínculo com Israel. Eu viera, por exemplo, a Kfar Aza com Ely Ben-Gal, intelectual progressista, salvo do Holocausto por um justo da cidade de Chambon-sur-Lignon,* que havia levado Sartre e Simone de Beauvoir alguns meses antes ao mesmo kibutz.
No kibutz vizinho de Be’eri, ficara hospedado na casa de judeus curdos que acalentavam o projeto de conviver com seus irmãos árabes. Segundo eles, só a tirania de Saddam Hussein conseguira destruir essa convivência no seu Iraque natal.
No kibutz vizinho de Be’eri, ficara hospedado na casa de judeus curdos que acalentavam o projeto de conviver com seus irmãos árabes. Segundo eles, só a tirania de Saddam Hussein conseguira destruir essa convivência no seu Iraque natal.
E mesmo que só tenha entrado no kibutz após as primeiras reportagens dos canais de tevê israelenses, ainda que as equipes da ONG Zaka – cuja tarefa santa é encontrar os pedaços que faltam dos corpos para reconstruí-los e lhes dar um funeral humano e judaico – tivessem me antecedido e sepultado a maioria deles, não consigo esquecer: nem o cheiro de leite azedo que pairava nas casas metralhadas, desossadas, semiqueimadas e que, com seus armários de faia cujo humilde conteúdo voara pelos ares, pareciam ter sobrevivido a um furacão; nem as ruas cuidadosamente planejadas, ladeadas por casas enfeitadas, com jardinzinhos intactos, onde se calaram o som da voz humana e o canto dos pássaros; nem o testemunho de todos os sobreviventes e socorristas relatando a retirada dos mortos, uns decapitados e desmembrados, outros carbonizados, outros ainda com o corpo crivado de balas e mãos despedaçadas como se tivessem lutado até o último instante; nem, enfim, o galpão dos legumes, onde foram depositados os pedaços de corpos recém recolhidos e ainda sem identificação – um pequeno monte de carnes indistintas e adivinhadas, odor forte.
Depois, encontrei famílias dos reféns, que me lembravam os pais do soldado Shalit,** que eu visitara numa casa parecida 15 anos antes. Revi os pais de Daniel Pearl, que encontrei em Encino, na Califórnia, nos primeiros dias da investigação em que eu seguiria os passos do jovem jornalista judeu sequestrado, tentando reconstituir seus últimos dias e me aproximar o máximo possível dos jihadistas que, no final, o decapitaram. Em todos, o mesmo desatino. Em todos, o mesmo estarrecimento e a mesma dificuldade de encontrar as palavras certas. E, em todos, quando finalmente as encontravam, as mesmas frases: nós, os sobreviventes… de novo os sobreviventes… estamos dispostos a dar tudo, tudo, até nossa vida, para que volte uma criança sequestrada sem sua mamadeira, uma irmã cujo corpo apareceu seminu, ensanguentado, nas redes, atirado como um pacote no porta-malas de uma picape, ou uma avó proibida pelos sequestradores de dizer adeus…

E depois encontrei outros sobreviventes, os da festa rave, ou os de Be’eri, que foram evacuados para Tel Aviv e me relataram os bárbaros que surgiram do nada; sua selvageria resfolegante e taciturna; a correria; os tiros de metralhadora; as motocicletas a toda velocidade, com dois, às vezes três indivíduos, as pernas do terceiro balançando no vazio; os rostos acinzentados que, na penumbra do quarto, só deixavam ver, no último momento, olhos brilhando de ódio; o aspecto caótico, mas sobretudo bem planejado de tudo isso, fulgurante e muito longo; o choro dos bebês; os gritos incrédulos das crianças e seus olhos arregalados de medo; os agonizantes se arrastando até seu celular para mandar uma última mensagem; o celular sem bateria; uma bala na cabeça, a última, como compensação; pareciam Einsatzgruppen;* nunca se vira, desde o início do Holocausto, judeus massacrados assim, à queima-roupa, só por serem judeus; e, ao mesmo tempo, não; era preciso tomar cuidado, e eu precisava calar na minha mente o desfile das reminiscências e das imagens; qualquer semelhança com uma situação anterior não tinha sentido, pois se estava diante de uma situação totalmente única.
Estamos no dia seguinte ao 7 de Outubro.
Na época, só tinha a Guerra da Ucrânia em mente.
Ela ocupa todo meu tempo, arrebata todos meus pensamentos, mobiliza todas minhas energias nestes últimos dois anos.
Porém, nesse instante, com o coração congelado, compreendo que acaba de ocorrer um acontecimento cuja deflagração, choque, impacto não se parecem com nada de conhecido e vão mudar o curso de nossas vidas.
Nem todos os acontecimentos são acontecimentos.
Nem todos têm a força historial, epocal,* instauradora de uma época, daquilo que o filósofo alemão Reiner Schürmann denomina Acontecimento.
O pogrom do dia 7 de Outubro foi um deles – vejamos por quê.
Bernard-Henri Lévy é filósofo formado pela École Normale Supérieure, escritor e cineasta. Colabora como colunista em inúmeras publicações na França e em outros países. Fundou e dirige a revista La Règle du Jeu, que trata de literatura, filosofia, política e artes. Reconhecido como um intelectual engajado pelo grande público na França, é um autor premiado, tendo publicado mais de 40 livros, entre ficção e não ficção.

